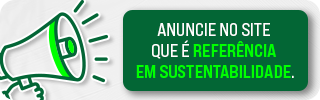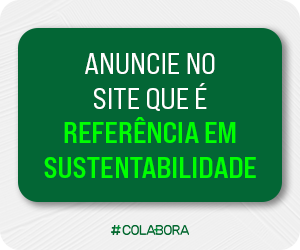ODS 1

Kanhu Raka no ATL. Foto: Arquivo Acessibilindígena
A (in)visibilidade dos indígenas com deficiência
Série especial 'Invisíveis dos Invisíveis' mostra que apagão de dados e falta de políticas públicas dificultam acessibilidade e inclusão desse grupo social
“Nós somos os invisíveis dos invisíveis”. É assim que Siana Guajajara, indígena de 29 anos, acredita que a sociedade e o governo consideram pessoas como ela. Siana tem paralisia cerebral e faz parte do universo de indígenas com deficiência que não consta nas estatísticas oficiais. Embora a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas recomende nos artigos 21 e 22 que os estados adotem medidas eficazes e especiais para melhoria da condição social e econômica dos povos indígenas, com especial atenção aos idosos, mulheres, jovens e pessoas com deficiência, há um apagão global de dados sobre essa última categoria.
Leu essas? Todas as reportagens da série especial ‘Invisíveis dos invisíveis’
“As pessoas acham que não existimos, que nosso povo nos matava. Não só existimos, como queremos políticas públicas que nos atenda”, reivindica Siana, que nasceu de forma prematura, aos sete meses. No hospital, diz ter sido vítima de erro médico: “Deixaram a incubadora sem oxigenação”. Os médicos acreditam, comenta, que esse foi o motivo para ela ter adquirido a deficiência.

Quando bebê, Siana não sentava e demorou a andar, o que chamou atenção dos pais. O diagnóstico de paralisia cerebral só veio aos três anos de idade. À época, um médico sugeriu que a família procurasse a Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação, que possuía uma unidade em São Luís, no Maranhão.
Embora morasse na cidade, a família de Siana fazia parte do Território Indígena Canabrava, que fica a cerca de 498 quilômetros de distância da capital do estado, uma viagem que chega a durar até oito horas. A mãe de Siana, Marline Leão Guajajara levava a filha às consultas e repassava as orientações médicas para o restante da família.
Siana viveu entre a aldeia e a cidade até os 18 anos, tendo, nesse meio tempo, morado nos municípios Barra do Corda e Grajaú, que ficam nos arredores da terra indígena. Devido a distância até o hospital, Siana chegou a perder o horário algumas vezes. “Os órgãos indígenas não davam esse suporte, somente passagem e podíamos ficar na Casai, mas era o indígena que precisava garimpar a informação”, diz.
Embora recebesse olhares de estranhamento de parentes de outras aldeias vizinhas, sendo chamada de apelidos preconceituosos por conta da limitação física, ela diz que a família sempre a apoiou. Mesmo superprotegida pelos pais, era estimulada a conquistar independência e chegou a ganhar uma bicicleta de presente. E ri quando lembra que nunca aprendeu a pedalar: “Gostava mais do vento no rosto”.
Com a morte da mãe, Siana se distanciou do território indígena e mudou com a família para Alto Paraíso de Goiás, onde reside atualmente. Com a mudança de endereço, passou a ser atendida na Rede Sarah de Brasília. Usuária de muleta, a paralisia cerebral não afetou sua capacidade cognitiva, somente a motora.
Pesquisadora de educação inclusiva, está cursando Licenciatura em Letras-Português no Instituto Federal de Brasília, no Campus São Sebastião. De casa até a faculdade é preciso pegar três conduções, em um trajeto que dura cerca de duas horas, diariamente.
Mas as dificuldades não a impedem de nada. “Estamos demarcando espaço. Estou viva e continuo persistindo”. Militante contra o capacitismo, Siana defende o direito dos indígenas com deficiência:
Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.
Veja o que já enviamosPrecisamos mostrar aos parentes do contexto urbano e os que estão no território nossa existência, que, por muito tempo, foi apagada e demonizada
“Precisamos mostrar aos parentes do contexto urbano e os que estão no território nossa existência, que, por muito tempo, foi apagada e demonizada”, diz Siana, se referindo ao fato de que, em algumas etnias, era tradição a prática do infanticídio em bebês nascidos com algum tipo de deficiência.
Apagão de dados
A Organização Internacional do Trabalho (OIT) constatou, no documento ‘Pessoas Indígenas com deficiência, acesso à formação e emprego’, publicado em 2015, que o grupo onde estão incluídos os indígenas com deficiência é considerado o mais vulnerável. Essas pessoas, segundo a OIT, enfrentam múltiplas formas de discriminação baseadas “na raça, etnia, gênero, língua e deficiência”, o que, em última instância, “prejudica sua participação na educação, formação e no emprego, conduzindo-os à grave exclusão social e pobreza”.
Siana conhece bem essa realidade e diz viver múltiplas lutas. “Sou mulher, indígena, com deficiência e não possuo alguns traços estereotipados atribuídos ao meu povo, não tenho o cabelo liso, por exemplo, o que gera questionamentos quanto à minha origem”, diz, ao falar dos cabelos cacheados. “Nada disso me faz menos indígena”.
Segundo a OIT, existem no mundo 54 milhões de indígenas com deficiência. E o motivo para o apagão de dados é claro: “relutância dos estados em reconhecerem seus povos indígenas; restrições de recursos para o desenvolvimento e aplicação de um conjunto mais abrangente de instrumentos e falta de envolvimento com as perspectivas indígenas sobre deficiência”.
Para a Rede Global de Pessoas Indígenas com Deficiência (em inglês, Indigenous Persons with Disabilities Global Network, cuja sigla é IPWDGN), a população indígena com deficiência é de 71 milhões, um número ainda maior do que aquele projetado pela OIT.
No Brasil, a população total de indígenas é de 1,7 milhão, o que representa 0,83% do quantitativo de brasileiros, segundo o Censo demográfico de 2022. Mas o mesmo Censo ainda não contabilizou o percentual de indígenas com deficiência. De acordo com Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), esses dados ainda não foram totalizados e a divulgação dessas informações está prevista para 2025.
O recorte também não fez parte da última Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), que concluiu um total de 18,6 milhões brasileiros com algum tipo de deficiência – esses dados se referem exclusivamente a pessoas que se autodeclararam branco, preto ou pardo, apesar de o IBGE ter inserido a população indígena como categoria de pesquisa desde 1991.
Falta apoio dos órgãos que dizem que nos representam. Sem um quantitativo de quem somos e onde estamos, como vão fazer projetos de política pública que nos alcancem?
“Falta apoio dos órgãos que dizem que nos representam. Sem um quantitativo de quem somos e onde estamos, como vão fazer projetos de política pública que nos alcancem?”, questiona Siana, comentando que as poucas informações disponíveis estão fragmentadas nos ministérios da Saúde e da Educação.
Post desabafo
Com a morte da mãe e a mudança de estado, Siana se afastou dos costumes e tradições do povo Guajajara. Em 2017, quando tinha 22 anos, decidiu acompanhar a irmã ao Acampamento Terra Livre (ATL). “Foi quando me senti pertencente novamente, toda a memória voltou, lembrei da minha mãe, me senti em casa de novo”. Não demorou a perceber a ausência de indígenas com deficiência na maior assembleia dos povos e organizações indígenas do Brasil: “Sentia que só havia eu ali”.
Até que quatro anos depois, em 2021, avistou dois indígenas na mesma condição que ela no ATL. Ouviu de um deles um comentário crítico ao encontro: “Me falou que debochavam da nossa presença, porque o acampamento não oferecia nenhuma estrutura para pessoas com deficiência, como nós”. A observação serviu como motivação. Estimulada por uma amiga, Siana participou, no ano seguinte, da Marcha das Mulheres Indígenas de 2022 e concluiu todo o percurso. “As pessoas olhavam com estranhamento, tiravam fotos, se assustavam por eu estar ali”, lembra.
A necessidade de mostrar que indígenas com deficiência existem e precisam de políticas públicas que lhes garantam direitos fez com que Siana iniciasse um movimento nas redes sociais. “Precisava encontrar os parentes e mostrar que existimos”. Após um post desabafo no Instagram publicado no Dia dos Povos Indígenas, em 2022, eles começaram a aparecer.
Uma das primeiras indígenas a entrar em contato com Siana após ler seu post foi a jovem Kanhu Raka, de 26 anos, da etnia Kamayurá. Por volta dos cinco anos, ela começou a sentir os primeiros sintomas da distrofia muscular progressiva, doença que enfraquece os movimentos até impossibilitar que a pessoa caminhe.
Nascida no Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso (MT), Kanhu defende, assim como Siana, a necessidade urgente de se discutir inclusão de pessoas com deficiência dentro e fora das aldeias. “Mesmo na luta somos esquecidos. Nós precisamos gritar que estamos aqui, nós queremos ser ouvidos!”

Garantia de direitos
Ao perceber que não estava sozinha, Siana se juntou a Kanhu, e elas se aproximaram de outras pessoas com deficiência. Nascia assim o Acessibilindígena, um coletivo voltado à temática de pessoas indígenas com deficiência e neurodivergentes. Inicialmente, eram quatro colaboradores e seis indígenas cofundadores. Hoje, o coletivo é formado por Siana, Kanhu, Ynathari Pataxó, Renata Tupinambá, Levi Tapuia, Carla Potiguara e tem como colaboradora Milene Correia.
Em dois anos de coletivo, foram várias as reuniões, conferências, palestras, lives e debates que o grupo já participou. O Acessibilindígena já esteve com a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, e com o secretário de Saúde Indígena, Weibe Tapeba. Os encontros ocorreram em 2023, e, desde então, o grupo espera que as promessas feitas pelas autoridades, especialmente o mapeamento dos indígenas com deficiência no Brasil, sejam cumpridas. O #Colabora solicitou ao Ministério da Saúde e à Secretaria de Saúde Indígena (Sesai) informações detalhadas sobre o andamento das ações, mas não obteve respostas.
A maior adaptação é a informação. O que falta para os profissionais de saúde é ir até as aldeias, identificar esses indígenas e encaminhar para atendimento especializado
Além das políticas públicas, Siana defende que é preciso investir em conhecimento: “A maior adaptação é a informação. O que falta para os profissionais de saúde é ir até as aldeias, identificar esses indígenas e encaminhar para atendimento especializado”. Outra reivindicação é a capacitação de profissionais indígenas que atuem dentro dos territórios indígenas. “Parente escuta parente. Como vão cuidar ou entender as pessoas com deficiência, se não tem acesso a essa informação?”
Em fevereiro último, o Acessibilindígena participou da elaboração de um relatório conjunto, produzido em parceria com outras 14 organizações do Brasil e de países como Bangladesh, Quenia, Nepal e Ruanda. Entre as organizações que assinam o documento estão a IPWDGN, a Minority Rights Group International (MRGI, na sigla em inglês) e o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Pessoa Indígena com Deficiência (CRDIPD), do Nepal.
No documento, as organizações detalham dificuldades comuns aos indígenas com deficiência nesses países. A lista é grande, mas as principais lacunas são a falta de dados globais sobre essa população; violação de direitos fundiários e insegurança alimentar; maior incidência de violência sexual contra mulheres indígenas com deficiência.
O grupo elencou cinco áreas temáticas principais que precisam ser consideradas no enfrentamento ao estigma que vivem as pessoas indígenas com deficiência: “desvantagem econômica e pobreza; violência e discriminação; participação política e tomada de decisões; acesso a cuidados de saúde e assistência social; alterações climáticas. Ao final do encontro, as entidades listaram recomendações, que foram encaminhadas ao relator especial do Conselho de Direitos Humanos da ONU sobre os Direitos dos Povos Indígenas, Francisco Cali Tzay.

Exclusão social
Diferentemente de Siana, que sempre contou com o apoio dos parentes, Kanhu não teve a mesma sorte. “Quando eu tinha por volta dos seis anos, meus pais perceberam que eu era diferente. Eu vivia doente”, lembra. Neta do cacique Kotok Kamayurá, ela rapidamente recebeu um diagnóstico dos anciãos da aldeia: estava amaldiçoada. “Então eu deveria ficar isolada dos demais, porque o que eu tinha poderia ser contagioso”, lembra.
Kanhu passou anos isolada em uma maloca, sem conviver com os demais membros da aldeia. “Até que um dia, apareceu uma turista na terra indígena e meus pais pediram ajuda. Eles queriam entender o que acontecia comigo e essa moça indicou que fôssemos para Brasília”, recorda.
Meus pais não falavam português e ficávamos para lá e para cá, e os médicos não tinham paciência para entender o que meus pais tentavam explicar
Em 2006, Kanhu e a família saíram do Parque Nacional do Xingu e se mudaram para a capital federal. “Meus pais não falavam português e ficávamos para lá e para cá, e os médicos não tinham paciência para entender o que meus pais tentavam explicar”.
Kanhu conseguiu atendimento e, assim como Siana, recebe assistência na Rede Sarah de Brasília. Ao ser diagnosticada com distrofia muscular de cintura, passou a receber o tratamento médico adequado e sua vida mudou: “A cadeira de rodas me deu oportunidades novas, pude ter uma vida melhor, fui pra escola, consegui ver um futuro pra mim”.
Com o tratamento na cidade, Kanhu se distanciou do território. Os pais e os quatro irmãos sempre vão à aldeia, mas ela não. “Eu só posso me deslocar para lá de avião, o que fica muito caro. Como sou cadeirante, é difícil porque na aldeia não tem acessibilidade. Se na área urbana não tem, imagine em uma aldeia?”
Tem muito buraco na aldeia e eu não tenho como passar. Se fizessem uma calçada, só em uma parte e não na aldeia toda, já ajudaria. Também não tem banheiro para mim
Apesar das dificuldades, Kanhu acredita que algumas mudanças já fariam a diferença — adaptações que não mudariam o dia a dia da aldeia, mas que permitiriam que ela, por exemplo, conseguisse visitar o local com mais frequência. “Tem muito buraco na aldeia e eu não tenho como passar. Se fizessem uma calçada, só em uma parte e não na aldeia toda, já ajudaria. Também não tem banheiro para mim”, lamenta.
Desde que saiu do Xingu, só voltou para lá uma única vez, em dezembro de 2019. “Fiquei muito nervosa com esse retorno, porque sempre ouvi que minha deficiência era contagiosa, que era amaldiçoada. Tinha receio de ser tratada assim novamente. Mas foi ao contrário. Quando cheguei, fizeram uma festa e eu finalmente me senti aceita. Foi como se dissessem ‘nós erramos com você’”, relembra.
Recentemente, seu irmão caçula foi diagnosticado com a mesma doença, mas não enfrenta as mesmas dificuldades que Kanhu. Convidada a voltar à aldeia outras vezes, chegou a ouvir uma promessa do avô, de que construiriam uma estrutura mínima para recebê-la. “Até cogitei voltar mais vezes, mas, além de precisar estar em Brasília por conta do tratamento, a viagem até a aldeia leva o dia inteiro e é muito cansativa”.
Após concluir o Ensino Médio em Brasília, Kanhu foi aprovada, em 2022, no curso de Ciência Política no vestibular indígena da Universidade de Brasília (UnB). “Meu sonho é conseguir me formar e voltar para minha aldeia”. O sonho ainda não vingou, porque a estudante enfrenta dificuldades em permanecer na universidade. Ela chegou a ser desligada em abril deste ano (2024), por não conseguir frequentar as aulas regularmente e pelo fato de a faculdade não ter conseguido disponibilizar um monitor para ela. Mas já conseguiu a reintegração e retornou às aulas.
Usuária de cadeira de rodas, Kanhu necessita de um monitor para ajudá-la na locomoção e para adaptar os trabalhos, que, por vezes, requerem muita escrita. Para chegar à UnB, Kanhu precisa pegar três ônibus e depois outras três conduções para voltar para casa – um transporte que nem sempre é acessível para um cadeirante. “A cidade não é adaptada para pessoas com deficiência, indígenas ou não”, finaliza.

Vanessa Monteiro
Vanessa Monteiro é de Belém (PA), jornalista e divulgadora científica na e da Amazônia. Especializada em comunicação científica, responsabilidade socioambiental e mestra em comunicação. Atua com jornalismo profissional desde 2008, o que inclui experiência na comunicação pública, jornalismo de revista, impresso e tv. É também pesquisadora da imprensa radiofônica paraense e estudante da comunicação acessível. Adepta da linguagem simples, pois entende que a comunicação é uma das principais barreiras que impedem a inclusão.