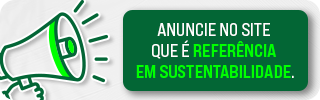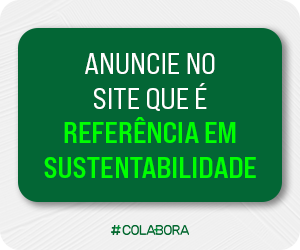ODS 1

A luta de mães em defesa dos filhos indígenas com autismo
Especial 'Invisíveis dos Invisíveis' | Inclusão nas escolas e rompimento de estigmas são as maiores dificuldades para enfrentar o problema, especialmente fora das terras indígenas
Quando leva o filho Carlinhos para as aldeias, a escritora e pesquisadora indígena Márcia Kambeba observa que ele não se distingue das demais crianças e adolescentes indígenas. “Todos brincam juntos. Na aldeia, a gente não separa”. O filho, com 16 anos, foi diagnosticado com dois tipos de transtornos: o do espectro autista (TEA) e o de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH). Mais recentemente ele também recebeu o laudo de insuficiência cognitiva: “Isso significa que ele vai ser dependente sempre, a psiquiatra o incapacitou”. Longe dos laudos e da área urbana, nas aldeias ele é apenas o Carlinhos.

Da etnia Omágua Kambeba, Márcia é originária do Amazonas (AM) e conta que o filho foi diagnosticado com autismo quando tinha dez anos, mas ele já vinha sendo acompanhado desde os três anos. “Carlinhos não falava, só apontava os objetos, e quando começou a falar, só repetia, o que me chamou a atenção”.
Leu essas? Todas as reportagens da série especial ‘Invisíveis dos invisíveis’
Desde que descobriu que o filho tinha um desenvolvimento atípico, Márcia pesquisou, estudou e buscou compreender a fundo o que significava essa e outras deficiências. “Sabia que não seria fácil a situação e a vivência dele e eu não deixaria meu filho sofrer”, conta, acrescentando que está “junto com ele, enfrentando as dificuldades e as adversidades que a própria sociedade apresenta, inclusive em escolas. Tantos as públicas quanto as privadas precisam entender sobre inclusão”, defende.
Quando meu filho sofre violência, ele sofre como autista, as pessoas não perguntam se ele é indígena ou não
Ela relembra um episódio ocorrido na escola em que um professor disse ao filho que ele atrapalhava os outros alunos e deveria voltar para o ensino fundamental. Márcia diz que esse tipo de atitude só comprova o quanto falta capacitação sobre inclusão nas escolas. Ela defende que o professor precisa ter um olhar amplo, estar sempre se reciclando, participando de rodas de conversa. Só assim, alunos com deficiência deixarão de ser alvo de violência, como essa, sofrida por Carlinhos na escola. “Quando meu filho sofre violência, ele sofre como autista, as pessoas não perguntam se ele é indígena ou não”.

Acolher versus excluir
A vivência de Carlinhos na escola inspirou Márcia Kambeba a escrever o livro “O curumim Wirá e os encantados” — lançado só nos Estados Unidos, que aborda a história de um menino com dificuldades cognitivas e que se sente diferente na escola, mas que gosta de aprender com a natureza. As ilustrações do livro são assinadas por Carlinhos. “As escolas precisam incluir o aluno, precisam descobrir os conhecimentos e os saberes que a aquela criança tem. Caso não saiba escrever, que fale, assim é possível valorizar os saberes que aquela criança traz. Mas alguns professores preferem colocar o aluno no canto”. Segundo sua experiência, muitas mães descobrem que os filhos têm autismo por conta da sala de aula, a partir do olhar clínico do professor.
“Meu filho não sabe ler, mas faz aulas de desenho, porque desenha muito bem”, conta Kambeba, que estimula a aptidão de Carlinhos para desenhar desde que ele era criança. Um dia, ao observar o comportamento de outra criança, que apresentava características típicas de uma pessoa com autismo, sugeriu à mãe da criança que buscasse informações a respeito.
A reação dessa mãe não foi das melhores. “Ela me respondeu ‘Deus me livre, meu filho não é doido!’”. Kambeba retrucou: “O meu filho também não, ele é autista. E se você não buscar ajuda pro seu filho, o prejudicado será ele”. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde (Opas), uma em cada 160 crianças tem TEA no mundo.
Atualmente fazendo Doutorado em linguística e residindo no município de Castanhal, no Pará, Kambeba tenta repassar seus conhecimentos tanto nos seus livros quanto em palestras. Em parceria com o Ministério Público do Pará (MPPA), vem realizando rodas de conversa com as indígenas nas aldeias. “Como as mulheres vão em grande número, tenho a oportunidade de falar não só sobre cultura, identidade, território e memória, mas também dessa relação dentro da família, onde, muitas vezes, as mães precisam estar atentas a tudo aquilo que o filho apresenta. É aí que consigo entrar para falar de autismo”.
Censo Escolar
É pensando nessas identificações que, todos os anos, as escolas brasileiras da educação básica precisam declarar os dados sobre os estabelecimentos de ensino, gestores, turmas e matrículas. O documento é chamado de Censo Escolar, e se tornou um importante instrumento para análise da situação educacional e na avaliação das políticas públicas. O Censo Escolar é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) em conjunto com as secretarias estaduais e municipais de Educação, integrando escolas públicas e privadas do país.
Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.
Veja o que já enviamosNo Censo estão incluídas as escolas localizadas em assentamentos, comunidades quilombolas e territórios indígenas.
O que precisa ser mais investigado é se o aumento da população de indígenas com deficiência em lugares de conflito, contaminação por agrotóxico, mercúrio e outros fatores de contaminação ambiental também estão impactando nesses números
O último Censo Escolar, de 2023, contabilizou 302.670 matrículas em escolas indígenas brasileiras. Mas quantos desses registros são de indígenas com deficiência? Para a doutora em Educação Especial e pesquisadora Michelle Sá, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Censo Escolar é um dos poucos documentos que fornecem dados mais precisos para responder a essa questão. “Apesar de ter limitações, o Censo Escolar traz uma proximidade com essa população, porque os gestores precisam obrigatoriamente preencher um formulário informando os alunos com deficiência naquela escola”, explica.
Desde 2006, a pesquisadora se dedica a mapear os indígenas com deficiência no Brasil — um desses trabalhos foi feito em conjunto com os pesquisadores Eduardo Ribeiro e Taísa Gonçalves. Eles analisaram os dados do Censo Escolar nos seguintes anos: 2010, 2015 e 2020. De acordo com os dados, ocorreu um aumento de indígenas com deficiência matriculados nesse período de tempo.
Em 2010, o quantitativo de alunos com deficiência matriculados nas escolas indígenas do Brasil era de 510 pessoas. Em 2020 somaram-se quase três mil alunos indígenas com alguma deficiência em todo o país. Em 2010, seis indígenas foram registrados com TEA, enquanto que em 2020 esse quantitativo foi de 225 alunos apresentando o diagnóstico. Os dados englobaram tanto o ensino fundamental e médio, quanto alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).
Segundo a pesquisadora, há uma série de situações que podem justificar esses números. Um deles, por exemplo, é o aumento de matrículas de forma geral e o crescimento do número de indígenas, conforme indicam os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). “Consequentemente há um aumento da população de indígenas com deficiência. A questão do acesso aos profissionais de saúde para expedir os laudos pode também ser um indicativo. O que precisa ser mais investigado é se o aumento da população de indígenas com deficiência em lugares de conflito, contaminação por agrotóxico, mercúrio e outros fatores de contaminação ambiental também estão impactando nesses números”.
Ainda que existam políticas voltadas a pessoas com deficiência, a professora explica que muitas normativas não consideram especificidades, como os indígenas. “Precisamos avançar nas discussões de políticas públicas mais específicas para esse grupo, porque eles ficam invisíveis dentro do grupo de pessoas com deficiência. Com isso acabam tendo uma dupla exclusão, por serem pessoas com deficiência e por serem indígenas”.
Segundo o Decreto Nº 6.861, de 06 de maio de 2009, a Educação Escolar Indígena define uma série de normativas necessárias para o funcionamento dessas escolas, mas não dispõe sobre educação especial indígena.
Já a Resolução nº 5, de 22 de junho de 2012, do Conselho Nacional de Educação (CNE), define as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Escolar Indígena na Educação Básica. No documento, a educação especial indígena deve ser garantida por meio da oferta de Atendimento Educacional Especializado (AEE). O Ministério da Educação (MEC), articulado com os sistemas de ensino, também deve realizar diagnósticos da demanda por Educação Especial nas comunidades indígenas e os sistemas de ensino precisam assegurar a acessibilidade aos estudantes indígenas. A identificação desses alunos, além da equipe técnica especializada, deve considerar a experiência dos professores indígenas, a família, as questões culturais.
Assim como está na normativa, a pesquisadora defende que a identificação e diagnóstico de autismo e deficiência intelectual devem ocorrer junto às comunidades indígenas, para não se ter um erro precoce de diagnóstico. Sá explica que algumas deficiências precisam de um diagnóstico mais complexo e que respeite a subjetividade. Ela diz que tanto o TEA quanto a deficiência intelectual precisam ter um olhar sensível antes de se estabelecer um diagnóstico para uma pessoa indígena, principalmente dependendo do grau da deficiência.
“Não necessariamente precisa ser um psicólogo indígena, mas é preciso que, junto à equipe de saúde, tenha a participação da comunidade como um todo, das lideranças, dos familiares, professores dessas crianças, para que se possa fechar um diagnóstico. Não tem como fazermos isso sem termos esse diálogo, para compreendermos as particularidades, as questões linguísticas e o contexto familiar dessa criança”, defende.
Ela cita o exemplo de algumas etnias, em que uma característica atribuída ao autismo, pode ser traço cultural.
“Uma das características do autismo inclui crianças que não interagem, que não participam das atividades. Porém, em algumas etnias, temos alguns indígenas que não olham nos olhos, porque isso significa uma afronta, quando está se buscando um conflito. Eles nunca vão olhar nos olhos uns dos outros se não for por esse motivo”, explica.
Durante um dos trabalhos de campo realizados por Michelle e que englobou 27 aldeias no Mato Grosso do Sul (MS), várias crianças foram apresentadas como tendo deficiência intelectual em uma escola indígena. O motivo: elas não conseguiam aprender o que estava sendo repassado pelos educadores. “O problema era que as crianças falavam a língua Guarani e entendiam pouco a língua portuguesa, e naquela escola indígena falava-se muito a língua portuguesa, com isso as crianças estavam com dificuldade de aprendizagem. Foi então que nós percebemos que era mais uma questão de comunicação do que de aprendizado ou deficiência”, conta.

Crachá para evitar preconceito
No contexto urbano, o acesso à saúde e à educação especializada para indígenas com TEA também não é facilitado. A dificuldade em conseguir um laudo ainda é uma lacuna para a obtenção de serviços e garantia de direitos. Tânia Pereira, indígena da etnia Satere Mawé, reside com a família no bairro da Compensa, um dos mais populosos de Manaus (AM). Mãe de Igor, de dez anos, diagnosticado com autismo, ela diz que demorou anos para conseguir o laudo do filho, documento que veio somente a partir de um mutirão de saúde em 2023.
“Nós não tivemos nenhuma ajuda por sermos indígenas. Aqui em Manaus eles só querem atender pessoas que vem direto da aldeia. Quem mora na cidade, na área urbana, é muito difícil conseguir atendimento. Até para tomar vacina, que é prioritária para indígena, quando a gente vai no posto eles dizem que somente para indígenas aldeados. Todos merecemos ter o mesmo acolhimento, mas a própria Sesai [Secretaria de Saúde Indígena] nos deixa de lado”, diz.
Pela Lei nº 12.764, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei Berenice Piana), tanto o acesso a ações e serviços de saúde, com diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional, a nutrição adequada e a terapia nutricional; quanto o acesso à educação e ao ensino profissionalizante são direitos da pessoa com TEA. Mas a realidade é diferente.
Evitávamos até de sair de casa, para que ele não fosse exposto a situações e comentários maldosos. Mas percebo que agora muitas pessoas entendem o que significa o crachá. Ele mesmo já sabe que não pode sair sem
De posse do laudo, Tânia foi instruída a ter paciência para conseguir as consultas necessárias na rede municipal, onde atualmente Igor faz acompanhamento. “Lá tem especialistas, mas me disseram que são sete mil crianças para serem atendidas, então temos que esperar cerca de três meses para uma consulta. Não tenho condições de pagar exames e acompanhamento com terapeuta, então nos resta esperar”, diz.
Embora o laudo seja recente, as suspeitas sobre o diagnóstico de autismo de Igor vinham de antes. Com quatro anos de idade, a criança ainda tinha dificuldade de andar e não desenvolvia a fala, o que chamou a atenção de familiares. Mas foi na tentativa de matriculá-lo na escola, que a diferença para com outras crianças ficou mais evidente. “Não conseguíamos que as escolas o aceitassem, diziam que ele era agressivo”, lembra Tânia. Quando foram sinalizados de que a criança poderia ser atípica, foram buscar informações. Mas aí começou a pandemia. “Estava tudo agendado, mas foi suspenso por conta da pandemia. Pediam o laudo na escola, mas não tínhamos como obter o documento com tudo fechado”.
Tânia diz que precisa contar com a compreensão dos professores, que nem sempre conseguem lidar com uma criança com autismo. “Fomos chamados várias vezes na escola. Nos sentíamos impotentes, porque cada chamada era muito difícil, as pessoas acham que é birra, que não educamos direito. Ele é superinteligente, mas não gosta de contato físico, fica agitado, e algumas pessoas não compreendem”.
A partir do laudo, Igor teve acesso à sala de recursos da escola, onde intercala as aulas. Atualmente aluno do quarto ano, Tânia diz que ele melhorou muito no desenvolvimento, embora sempre tenha que lidar com o preconceito. “É difícil ver o olhar torto das pessoas para o nosso filho, principalmente fora da comunidade indígena. Às vezes nem precisam falar, mas só de olhar, quem é mãe percebe. As pessoas não compreendem e confundem com má educação. Ainda bem que agora tem o crachá”.
O crachá que Tânia se refere é a Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), sancionada pela Lei Federal nº 13.977 de 2020. A CipTEA é um mecanismo que visa “garantir atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social”. Por essa lei, pessoas com autismo também podem usar a fita quebra-cabeça, símbolo mundial da conscientização do transtorno do espectro autista. Também conhecida por Lei Romeo Mion, em alusão ao filho com autismo do apresentador brasileiro Marcos Mion, a normativa alterou a Lei nº 12.764 e a Lei nº 9.265, de 12 de fevereiro de 1996 (Lei da Gratuidade dos Atos de Cidadania).
Para Tânia, mais do que prioridades, a carteira se tornou uma forma de prevenir que o filho não sofra preconceito. “A identificação facilita muito para prevenir certos constrangimentos. Nós já recolhemos demais nosso filho, por medo de que ele sofresse preconceito. Evitávamos até de sair de casa, para que ele não fosse exposto a situações e comentários maldosos. Mas percebo que agora muitas pessoas entendem o que significa o crachá. Ele mesmo já sabe que não pode sair sem”, diz.

Relacionadas
Vanessa Monteiro
Vanessa Monteiro é de Belém (PA), jornalista e divulgadora científica na e da Amazônia. Especializada em comunicação científica, responsabilidade socioambiental e mestra em comunicação. Atua com jornalismo profissional desde 2008, o que inclui experiência na comunicação pública, jornalismo de revista, impresso e tv. É também pesquisadora da imprensa radiofônica paraense e estudante da comunicação acessível. Adepta da linguagem simples, pois entende que a comunicação é uma das principais barreiras que impedem a inclusão.