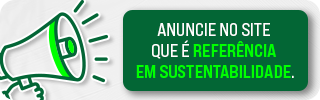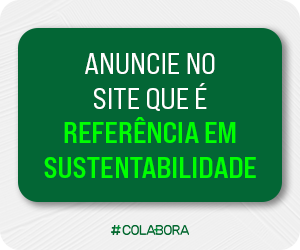ODS 1

As décadas perdidas do clima
Como o lobby fóssil, a incompetência e a má fé nos condenaram a um presente climático sombrio e a um futuro trágico
Como o lobby fóssil, a incompetência e a má fé nos condenaram a um presente climático sombrio e a um futuro trágico
(Especial para o #Colabora) – Quando a conferência de Estocolmo aconteceu, em 1972, o aquecimento global ainda não havia sido inventado.
Embora desde 1896 os cientistas soubessem que a adição de gás carbônico à atmosfera tivesse o potencial de esquentar o planeta e desde 1938 alertas de que nós já estávamos mudando o clima viessem sendo feitos, a expressão “aquecimento global” só seria cunhada dois anos depois da reunião na Suécia, em 1974, pelo oceanógrafo americano Wally Broecker. O tema permaneceria mais ou menos latente na academia, como preocupação de um grupo pequeno de físicos, até ganhar a atenção do público em 1988, quando um estudo do também americano James Hansen ganhou a manchete do New York Times ao ter suas conclusões apresentadas numa audiência pública do Senado. O timing da audiência foi perfeito: uma onda de calor se abatera sobre os EUA naquele verão, e os americanos sentiram na pele o que poderia ser o seu futuro. O clima nunca mais saiu das páginas dos jornais.
O fim dos anos 1980 parecia mesmo uma época adequada para falar de futuro. Com a queda do Muro de Berlim, o fantasma da aniquilação nuclear enfim saía do cangote da humanidade e permitia à sociedade se preocupar com outras agendas, como o meio ambiente. Nessa atmosfera de êxtase pelas possibilidades infinitas a comunidade global se encontrou de novo, em 1992, no Rio de Janeiro, para celebrar os 20 anos de Estocolmo. Ali, com oposição do governo dos EUA, que fez birra até o último segundo, nasceu a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, com o objetivo de impedir a “interferência perigosa da humanidade sobre o sistema climático”.
A guerra do clima ainda não estava perdida naquela época. O colapso da União Soviética havia causado um declínio das emissões de gases de efeito estufa do bloco socialista. Mas as evidências de que a humanidade estava interferindo no funcionamento da atmosfera ainda eram parcas. O primeiro relatório de avaliação do recém-criado IPCC, o painel do clima da ONU, havia detectado um aquecimento da atmosfera, mas dizia que este era compatível com a variabilidade natural do clima. Em 1995, o IPCC avançou ao relatar uma influência humana “discernível” no aquecimento global, e aí a porta do inferno se abriu.
Uma campanha de desinformação muito bem arquitetada e financiada pelas empresas de combustíveis fósseis dos Estados Unidos tratou de colocar em xeque a credibilidade dos cientistas do IPCC. Usando o mesmo manual de relações-públicas criado nos anos 1950 pela indústria do tabaco para questionar o elo entre cigarro e câncer, essa turma conseguiu criar na cabeça do público a impressão de que havia realmente uma controvérsia científica sobre o aquecimento da Terra e que a comunidade científica estava dividida em dois “lados”, o dos que “acreditavam” no aquecimento induzido por atividades humanas e os que eram “céticos” a esse respeito. Esse movimento atrasaria as ações de corte de emissões de gases de efeito estufa e a transição energética em mais de duas décadas. E foi o principal responsável pela janela de oportunidade de evitar a tal “interferência perigosa” ter se fechado na nossa cara.

De 1995, quando foi realizada a primeira conferência do clima da ONU, em Berlim, até 2015, quando o primeiro acordo global contra as mudanças climáticas foi adotado, a humanidade perdeu um tempo de que não dispunha para acelerar a adoção de energias renováveis e eliminar o desmatamento, as duas maiores causas do problema. O jogo de empurra entre os países ricos, que nunca quiseram pagar a conta do aquecimento observado (causado majoritariamente por eles), e os países emergentes, que nunca quiseram adotar metas, complementou com conveniência política o discurso da dúvida instilado na sociedade pelo lobby fóssil (em tempo: desde 1977 as empresas de petróleo sabiam que sua atividade causava o aquecimento global, mas optaram por esconder a informação e financiar a desinformação).
O resultado foi que ninguém se mexeu. E as emissões só fizeram subir: estima-se hoje que metade dos gases de efeito estufa presentes na atmosfera tenham sido emitidos de 1990 em diante. Pior ainda: a década com maior aumento de emissões da história da humanidade ocorreu entre 2009 e 2019, quando as evidências científicas já eram mais do que irretorquíveis, os impactos dos eventos extremos começavam a se mostrar com força total e os países concordaram em tentar fechar um acordo global do clima na malfadada conferência de Copenhague.
As duas semanas de negociações na gélida capital dinamarquesa nasceram fadadas ao fracasso: os EUA e a China, respectivamente maior emissor histórico e maior emissor atual de carbono do planeta, haviam concordado antes do início da conferência que não estavam prontos para um acordo legalmente vinculante, ou seja, com peso de lei e de cumprimento obrigatório, e transformaram o acordo de Copenhague num fraco compromisso político. Não fez nem cócegas nas emissões – ao contrário.
Seis anos depois, os mesmos dois países tinham um cenário político e econômico bem distinto: a China inundava o mundo com painéis solares e turbinas eólicas, e os EUA, impulsionados pela queda nas emissões causadas pela redução do preço do gás natural devido à nova tecnologia do fraturamento hidráulico, puderam enfim regular as emissões do setor elétrico, antes dominado pelo carvão mineral.
Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.
Veja o que já enviamosCom interesses alinhados, os gigantes emissores enfim aceitaram conduzir o mundo rumo a um acordo climático com metas para todos os países. Em dezembro de 2015, foi adotado o Acordo de Paris, que tem como objetivo estabilizar o aquecimento da Terra “bem abaixo de 2oC” em relação à média pré-industrial e “envidar esforços” para estabilizá-lo em 1,5oC.
Pouco demais, tarde demais. Quando o Acordo de Paris foi adotado, a meta de 1,5oC – definida mais ou menos consensualmente como o tal limite perigoso de interferência humana no clima – já estava virtualmente perdida. Em 2021, o IPCC expediu seu atestado de óbito, ao dizer que, não importa o que a humanidade faça, a inércia do sistema climático fará o aquecimento ultrapassar 1,5oC em todos os cenários nos próximos 20 anos.
Foi tudo em vão? De forma alguma: o interesse da sociedade e, em seguida, do sistema político pelas conferências do clima mandou um sinal definitivo para o mercado. Hoje o fim da era dos combustíveis fósseis é uma questão de quando, não de se, e a energia solar já é a forma mais barata de gerar eletricidade em várias partes do mundo. Foi a Convenção do Clima que botou isso em movimento; a transição já é.
Vai dar tempo? Acho que não. Mesmo se reduzirmos em 43% as emissões globais até 2030, como recomenda o IPCC, teremos pouco mais de 50% de chance de manter o aquecimento em 1,5oC. As emissões ainda não dão nem sinal de queda?
Melhor desistir e tocar um tango argentino? Tampouco: é preciso evitar a impressão equivocada de que os limites de temperatura são barreiras cabalísticas a partir dos quais o mundo acaba. Ao contrário, 1,6oC é melhor que 1,7oC, que é melhor que 2oC e assim por diante. Cada tonelada de carbono importa: são vidas salvas e prejuízos evitados. É preciso acelerar a transição, a melhor maneira de fazê-lo é votando em candidatos a cargos públicos que tenham o clima entre suas prioridades. No Brasil, teremos uma oportunidade em quatro meses.
Outras matérias do especial Cinco décadas de Meio Ambiente
Claudio Angelo
Claudio Angelo é coordenador de Comunicação do Observatório do Clima. Jornalista formado pela Universidade de São Paulo, é autor de A espiral da morte – como a humanidade alterou a máquina do clima (Companhia das Letras, 2016).