ODS 1
A moça do asfalto, a favela e o tiroteio

Na noite em a Rocinha ‘apagou’, relato mostra resistência e perplexidade diante da banalização da violência

“Um dia de real grandeza, tudo azul” – era o que eu pensava, ouvindo Chico Buarque cantar na minha cabeça, enquanto subia com Ela a Rocinha naquela quarta-feira à tarde. Neste texto, chamaremos de “Ela” a amiga que há tempos vem dizendo querer conhecer a comunidade de que tanto ouve falar, para o bem e para mal. A chance? Um trabalho de faculdade, onde abordaria numa matéria as manifestações culturais daquele local. Era eu o canal. Tinha a possibilidade de apresentar a Ela o que é tão próximo de mim e tão distante dela.
Preparei a tarde: liguei para os pontos onde a levaria e que, de alguma forma, iriam marcá-la e fazê-la entender como se dá todo o vaivém desgovernado que é a Rocinha. Estava tudo certo – como dois e dois são cinco, para citar outro verso famoso, esse do Rei. Em favela, ou melhor, em qualquer lugar, não dá para prever quando virão os tiros. Naquele dia havia tido, mas nos outros também. Eu sabia. Ela sabia. Todos nós sabíamos e sabemos, é assim todo dia. Como prever um tiroteio?
Melhor sempre avisar. “Se acontecer algo, faça tudo o que eu fizer”, aconselhei. Seguimos, com algumas explicações rápidas sobre os locais por onde passávamos, as pessoas e o intenso fluxo de carros, motos e vans. “Quando tem tiroteio, tudo fecha?”, Ela perguntou, enquanto subíamos a Via Ápia, uma das mais movimentadas da comunidade. “Claro que não”, respondi, no primeiro impacto de muitos da visita.
“Você vai ser atropelado”, assustou-se Ela, enquanto eu atravessava. E por que eu não atravessaria? O motorista já havia me visto e dado passagem, o que eu tinha de fazer era simplesmente ser cordial. “Isso não é natural, no mundo real as pessoas não fazem dessa forma”, completou Ela, sem saber que o mundo real ali é bem outro.

Chegamos ao nosso destino: a Garagem das Letras, espaço de resistência literária comandado pela italiana Bárbara Olivi e seu time de colaboradores. O projeto está sediado na Dioneia, uma das localidades com maiores incidências de confrontos da Rocinha. A cinco minutos da Estrada da Gávea e perto da Escola Municipal Francisco de Paula Britto, a Garagem torna-se, além de biblioteca, espaço de abrigo, refúgio. Como a Bárbara sempre costuma dizer, o lugar acolhe todos que são frágeis, de crianças a idosos, todos que não podem se defender.
Apresentei Bárbara a Ela, enquanto seis alunos acompanhavam a aula de inglês dada por uma voluntária. No escritório improvisado no canto da sala, Bárbara mostrava uma pilha de camisas brancas em cima da mesa. “Vamos pintar essas camisas e dar para os jovens. Odeio ter uniforme, mas é para segurança”, explicou. Com apoio e colaboração de seus voluntários, eles tomam conta de mais duas iniciativas: a Casa Jovem, onde 60 adolescentes recebem reforço escolar, e a Escolinha Saci Sabe Tudo, espaço educacional voltado à primeira infância, com cerca de 70 crianças.
“Como é trabalhar com crianças numa situação de violência como essa?”, perguntou Ela. A resposta veio na trilha sonora contundente dos tiros. Parecia ensaiado. Não houve tempo para Bárbara responder. Metalinguagem.

Meu primeiro estalo foi sentar no chão, e Ela, lembrando do conselho dito no início, sentou também. Quem passava na rua em frente à Garagem, correu. Quem estava dentro, ficou. Agachado e observando tudo aquilo, percebo o estágio de perplexidade dela, que até então nunca tinha passado por algo parecido. Fiquei chocado. Mesmo morando há 20 anos naquele local, era a primeira vez que assistia a alguém que não vive essa realidade passar por aquilo, naquele momento, no olho do furacão. Choque duplo.
‘’Fica bem, vai ficar tudo bem, nada acontecerá’’, foi o que deu pra dizer. Mas que garantia tinham as minhas palavras? Ela me olhava e percebia as janelas tremerem. O helicóptero da polícia já sobrevoava a Rocinha. No Whatsapp, pipocou o informe de que não era só um, mas dois helicópteros. Ela se assustou ao me ver agachado respondendo as mensagens e publicando informes nas redes sociais do site FavelaDaRocinha. Uma mãe que voltava do trabalho com o filho entrou na Garagem. Bárbara ofereceu chocolate a todos. O mundo parecia guerra, mas ali, no refúgio, era a forma de lidar com o medo. Enquanto seguia-se uma sinfonia de tiros, a voluntária ensinava aos alunos: “I speak French”.
Os tiros cessaram, e Julio, companheiro de Bárbara na vida e na estrada, resolveu sair para comprar salgados na lanchonete ao lado da Garagem. Dez minutos depois, ele voltou com o informe: um morto e três feridos. Um sargento, duas policiais e um morador. Em seguida, um aviso: ‘’Mandaram fechar o comércio’’.
Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.
Veja o que já enviamosO que parecia ter parado, voltou. Um pai que passava com o filho no momento entrou na Garagem assustado, e Bárbara ofereceu um brinquedo. Olhei para Ela, que registrava a cena: o pai entretendo a criança, numa tentativa de não explicar o que acontecia, ou ao menos amenizar o espanto.
“Se não saírem agora, pode não rolar outra oportunidade”, aconselhou Julio. “Eles não vão sair?”, perguntou Ela. “Não. Aqui não fecha”, respondi. Permanecer ali não era o problema, mas continuar não era solução para nós. Começamos a nos despedir, conscientes de como estávamos vulneráveis ao perigo. A Garagem permaneceu aberta, apesar de tudo. As pessoas continuavam e continuariam.
Com o céu cor-de-rosa sobre nossas cabeças, cenário do dia de real grandeza das “Caravanas” que o Chico insistia em cantar no meu ouvido, dei as mãos para Ela e saímos dali com rapidez em cima de dois mototáxis. Na descida, vejo que o comércio sempre apinhado de clientes começava fechar. Pessoas caminhavam, outras nem ligavam. Uma barreira de policiais se formou no início da Via Ápia, e, claro, fui revistado. “Abre a mochila”, disse o policial. Obedeci, dizendo ainda que era repórter. ‘’Repórter?’’, ele riu. Ela sentiu a ironia do policial e cogitou reagir ao muxoxo racista. Fui mais rápido e mostrei o crachá do trabalho. Seguimos. Lá embaixo descobrimos que a Lagoa-Barra estava fechada.
Naquele silêncio estranho que se impõe quando algo ruim acontece, olhamos para o alto e nos deparamos com uma imagem aterrorizante: a Rocinha tinha desaparecido no céu. Estava tudo escuro, um buraco negro, sem luzes nem brilho. Foi pesado constatar a invisibilidade momentânea causada pelos tiros que acertaram os postes de energia elétrica.
Olhamos um para o outro, demos as mãos e seguimos em silêncio. A música parou de tocar na minha cabeça.
Últimas do #Colabora
Edu Carvalho
Edu Carvalho é jornalista e apresentador, com passagens pela Globo, CNN e Revista Época. Ganhador do Prêmio Vladimir Herzog pelo #Colabora. É colunista no UOL Ecoa e no Maré de Notícias. Morador da Rocinha, cria do mundo

































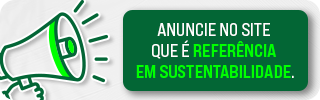

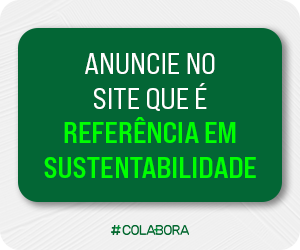








Cara, soy carioca morando no RS, me senti dentro da garagem…
Saúde e paz!
Sigamos fortes!
Ha braços!
Cara, sou carioca morando no RS, me senti dentro da garagem…
Saúde e paz!
Sigamos fortes!
Há braços!