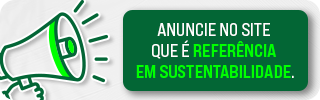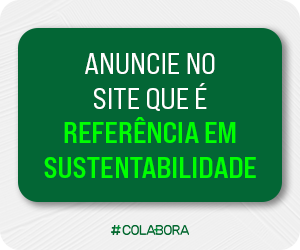ODS 1

O agricultor Carlos Branco em sua plantação em Limoeiro, umas das 12 comunidades tradicionais em Sento Sé ameaçadas pela atividade mineradora: “Eles vieram, demarcaram tudo, mapearam. Nunca agiram como se aqui tivesse dono" (Foto: Nathallia Fonseca)
Em Sento Sé, mineração afeta vidas reconstruídas 40 anos após chegada de hidrelétrica
Especial 'Sobradinho, uma saga sertaneja em dois tempos' | Extração de minério de ferro na Serra da Bicuda prejudica criação de animais e abastecimento de água de comunidades tradicionais
Para chegar ao conjunto de comunidades rurais conhecido como APL (Aldeia, Pascoal e Limoeiro), que abriga muitos dos reassentados após a construção da barragem de Sobradinho no Sertão baiano, é preciso percorrer uma estrada de terra a partir da sede do município de Sento Sé, uma das quatro cidades reconstruídas do zero após desapareceram sob o lago artificial inaugurado em 1982 pela Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf).
No caminho, o terreno de um posto de gasolina se transformou em estacionamento para dezenas de carretas que acusam o impacto de outra atividade econômica crescente na região: a extração do minério de ferro que, desde 2020, afeta comunidades rurais, como o conjunto APL, no entorno da Serra da Bicuda.
Leu essas? Todas as reportagens da série Sobradinho, uma saga sertaneja em dois tempos
O agricultor Carlos Branco vive no APL, precisamente na comunidade de Limoeiro, desde 1977 – quando as obras da barragem de Sobradinho levaram sua família a sair do território de mesmo nome onde viviam inicialmente. Ele conta que a movimentação de cargas da mineradora australiana Tombador Iron começou há cerca de 7 anos. “Eles vieram, demarcaram tudo, mapearam. Nunca agiram como se aqui tivesse dono, e os donos das terras também viram tudo sentados na porta de casa, sem se mexer”, diz.
Eu tinha roça de mandioca, milho, abóbora, feijão de corda. A gente plantava muito. Mas a água tomou tudo, toda a plantação. Não consegui de volta tudo que perdi, mas tive a chance de começar a plantar de novo
Além de Limoeiro, outras 11 comunidades são impactadas pelas atividades da empresa, uma transnacional australiana que busca minério de ferro na região. O mapa dos conflitos da Fiocruz, que cataloga embates no campo, possui uma página dedicada ao conflito entre a Tombador Iron e as comunidades do entorno, que há quatro anos questionam a legalidade da operação. O projeto de mineração na Serra da Bicuda – 100% de propriedade da empresa transnacional – teve as pesquisas minerárias reprovadas três vezes pela Agência Nacional de Mineração (ANM): em 2011, 2014 e 2018, sendo finalmente aprovada em 2020, no auge da pandemia.
Os moradores, porém, criticaram a falta de diálogo com as comunidades tradicionais e a pouca transparência sobre como o trabalho seria executado. “Além de ser utilizada tradicionalmente pelas comunidades para a criação de animais, a serra também abriga nascentes de rios, essenciais para o abastecimento de água dos comunitários, cavernas e vestígios arqueológicos, sendo parte da história e da sobrevivência dos moradores locais”, aponta o texto da pesquisa da Fiocruz.

Em setembro de 2023, um protesto na sede de Sento Sé mobilizou trabalhadores rurais que, como Carlos Branco, foram duplamente atingidos por grandes empreendimentos na região, chamando atenção para os danos causados pela mineração. Atos semelhantes foram registrados anteriormente. Em janeiro do mesmo ano, as atividades da empresa chegaram a ser interrompidas no Brasil após bloqueios nas estradas que “impossibilitaram a logística” da empresa.

“Uma dinâmica que acontece de maneira muito parecida em todas as comunidades tradicionais cobiçadas por grandes empreendimentos, sejam eólicas, mineradoras, hidrelétricas… é a descaracterização das comunidades tradicionais como uma tentativa de vulnerabilizar aquele lugar. Dizem que aquele lugar não tem desenvolvimento, não consegue se manter e então apresentam as empresas como salvadoras de um lugar que até então vivia bem”, comenta Carivaldo dos Santos, agente da Comissão Pastoral da Terra na Bahia.
Entre as queixas de moradores das comunidades mais próximas da Serra da Bicuda estão incômodos causados pelo barulho da operação das máquinas, problemas de saúde relacionados à poeira constante causada tanto pela atividade mineral quanto pelo fluxo de caminhões e, principalmente, a constante preocupação com a poluição do Rio São Francisco e com a própria Serra, que mantém diferentes espécies da caatinga e é parte da identidade do território.
Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.
Veja o que já enviamosA Tombador Iron não enviou posicionamento sobre o assunto até o fechamento desta reportagem.

Além da mineração, as comunidades convivem há ainda mais tempo com a presença de grandes parques eólicos. O município está entre os três com a maior quantidade de usinas eólicas em operação na Bahia. Segundo dados divulgados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE) no ano passado, são 58 usinas em operação espalhadas pelo território.
O primeiro complexo, Sento Sé I, opera desde 2013 e pertence a um consórcio formado pela Brennand Energia, pela Brennand Energia Eólica S.A. e, mais uma vez, pela Chesf — mesma empresa responsável pela construção da hidrelétrica de Sobradinho.
A área mais explorada pelos empreendimentos eólicos, porém, é distinta da região onde existe exploração mineral. Desta vez, a preocupação se afasta das áreas ribeirinhas e da borda do lago de Sobradinho e vai à preservação da Área de Proteção Ambiental (APA) Boqueirão da Onça, que abrange 853 mil hectares em quatro municípios do estado, entre os quais Sento Sé. O Boqueirão da Onça foi reconhecido pelo decreto federal nº 9.336 em 2018, quando pelo menos sete empresas eólicas já haviam realizado estudos de viabilidade na região, segundo reportagem do Portal Eco em 2011.
A vida antes e depois da barragem de Sobradinho
A convivência com a mineração em terras próximas à sua casa não é a primeira experiência do agricultor Carlos Branco com os impactos de grandes empreendimentos. Em 1977, ele foi uma das 72 mil pessoas removidas pela Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) para a chegada na barragem. “A vinda para cá envolveu muita promessa que não foi cumprida. A Chesf dizia que ia dar terreno, mas não cercou terreno nenhum. Prometeu um salário e acho que ninguém recebeu, pelo menos não aqui”.
Ele diz que sua família foi um dos grupos que demorou a acreditar na veracidade de que a água chegaria. “Nós fomos um dos últimos a sair. Só arredei o pé quando vi que não tinha mais jeito”, diz. Segundo ele, alguns objetos foram perdidos dentro da casa, onde a água rapidamente atingiu o teto. “Quando eu saí de lá, a água já estava cobrindo. Numa mesma semana, de um dia pro outro, a água ia chegando mais perto de casa. A gente começou a ver peixes pulando na beira, coisa que não aconteceria se estivesse normal”, recorda.
Um compadre meu tinha muito gado, antes da barragem. Depois de uns dias de água subir, ele alugou um barco e nós fomos lá, pelo rio, pegar a criação. Foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na vida até hoje, porque os bois não tinham pra onde ir. Ficaram ilhados. Muitos morreram, a água comia a carne daqueles animais
Apesar dos danos irreparáveis, Carlos se considera um “felizardo” do ponto de vista indenizatório. Como era detentor de algumas roças e plantações, o agricultor conseguiu um pagamento logo após a mudança para a APL, o que reconhece como um privilégio em comparação com a maioria dos vizinhos. “Eu tinha roça de mandioca, milho, abóbora, feijão de corda. A gente plantava muito. Mas a água tomou tudo, toda a plantação”, diz. “Não consegui de volta tudo que perdi, mas tive a chance de começar a plantar de novo”.
Apesar disso, o trabalhador rural não esquece as ilegalidades às quais os povos tradicionais ribeirinhos foram submetidos à época da chegada da barragem, ainda discutidas pela Justiça brasileira. “Eles dificultavam muito as coisas pro pobre. Não tinha um procurador, não tinha um advogado que explicasse as coisas pra gente. Eram os próprios funcionários da empresa que diziam tudo”, recorda. “Um senhor se apresentou como advogado naquela época. O pessoal todo acreditou nele, porque ele tinha estudo. Só muito tempo depois nós fomos descobrir que ele trabalhava para a Chesf”, conta.
Além dos danos materiais, Carlos fala com tristeza sobre o impacto social que a mudança causou na vida em comunidade. “Quando chegamos aqui em Aldeia, muita gente de outros lugares veio também. Nessa época, começaram as brigas. Tinha muito crime e muita briga entre as pessoas que não se conheciam. Muita gente começou a beber naquela época, porque tinha perdido tudo. Mataram gente, até”, diz. “A comunidade que a gente morava não tinha tanto desenvolvimento, por assim dizer, mas a gente vivia feliz porque lá tinha uma coisa que o dinheiro não paga: o nosso sossego”.

“Água cobriu terra, cobriu bicho”
No quintal da casa, orgulhosamente exibido pelo agricultor, uma mangueira adulta é um dos troféus que conseguiu acumular desde que chegou na comunidade onde vive. De todas as lembranças que Carlos Branco divide com a reportagem, é ao falar sobre animais e plantações que ele chora.
‘Um compadre meu tinha muito gado, criação, antes da barragem. Se até as pessoas tiveram que sair às pressas de casa, imagine os bichos. Depois de uns dias de água subir, ele alugou um barco e nós fomos lá, pelo rio, pegar a criação. Foi uma das coisas mais tristes que eu já vi na vida até hoje, porque os bois não tinham pra onde ir. Ficaram ilhados. Muitos morreram, a água comia a carne daqueles animais”, diz. O trabalhador rural diz que a missão de resgatar os animais durou mais de um mês trabalhando diariamente.
“Era uma praga muito grande. Fazia pena porque a água cobriu terra, cobriu bicho. Dos que a gente trouxe, soltava na beira do rio e muitos caíam sem se levantar mais, sem força. Era tudo gado bravo, criado no mato”, lamenta o agricultor. “Esse compadre, logo depois ficou decadente. Perdeu tudo, perdeu o gosto pela vida”, diz.
Hoje o agricultor diz que enxerga na política e no acesso à educação a chance de não repetir histórias como a tragédia que acometeu sua família e comunidade após a chegada de Sobradinho, mas se mostra desesperançoso quanto à possibilidade de conseguir justiça pelo que já passou. “Só a gente sabe o que a gente viu naquela época. Os jovens hoje não acreditam, mas destruiu tudo, acabou tudo”, comenta.
*A série especial ‘Sobradinho, uma saga sertaneja em dois tempos’ foi uma das vencedoras da Bolsa #Colabora de Reportagem – 8 anos
Outras matérias do especial Sobradinho: uma saga sertaneja em dois tempos
Relacionadas
Nathallia Fonseca
Nathallia Fonseca é jornalista pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Nascida no Sertão baiano, criada às margens do São Francisco e residente hoje em São Paulo. Em 2019, venceu o prêmio Vladimir Herzog na categoria Arte com o livro-reportagem em quadrinhos TIRA e foi apontada entre os jornalistas mais premiados do Nordeste no mesmo ano. Passou pelas redações do Diário de Pernambuco, CNN Brasil, Agência Pública, Lupa e outros veículos e coletivos de jornalismo. Atualmente trabalha como editora de notícias nacionais no Brasil de Fato.