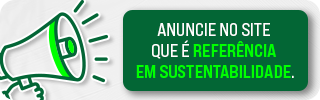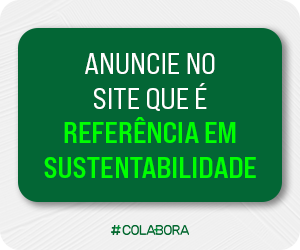ODS 1
A universidade como campo de batalha

Por trás do discurso eleitoral, a luta para que a subalternidade de pobres e negros deixe de ser tratada como natural e insuperável


Comecei a lecionar na PUC-Rio em 2005, quando as bolsas de ProUni já haviam modificado o perfil dos alunos do campus da Gávea, historicamente restrito a privilegiados pagantes e onde o pequeno percentual de bolsistas – resultado da isenção de mensalidades para alunos carentes ligados à igreja católica – era quase invisível e limitado a cursos de menor procura e baixa concorrência. Naquele momento, a presença inédita de alunos e alunas negras em salas de aula antes dominadas por pessoas brancas causava um misto de alegria, espanto e preocupação. Alegria por ver que havia enfim uma política que permitia o ingresso de jovens oriundos de escolas públicas, muitos deles moradores de bairros distantes do subúrbio ou de cidades da região metropolitana, e em geral os primeiros da família a entrar na universidade; espanto que se tenha demorado tanto a ter uma política educacional inclusiva no ensino superior; e preocupação em como acolher um grupo que não chegava com bagagem familiar, cultural ou social da vida universitária.
[g1_quote author_description_format=”%link%” align=”left” size=”s” style=”solid” template=”01″]A sala de aula no ensino público – e em algumas raras experiências de escola privada – ainda é o único lugar em que a esperança vence o medo, em que os olhos brilhantes dos jovens e das jovens negras parecem iluminar outra possibilidade de nação
[/g1_quote]Mas assim como já havia acontecido em outros lugares – como na Uerj, a primeira a oferecer cotas para pessoas negras –, os bolsistas mostravam empenho e determinação maior do que muitos alunos supostamente dotados de melhor formação educacional anterior. Lembro de uma aluna que chegava às 7h vindo de São Gonçalo, estudava até às 13h, comia no bandejão, fazia estágio até às 17h e depois ia estudar na biblioteca para voltar para casa, depois de jantar, no ônibus de 21h e encarar quase duas horas de transporte. Lembro também de um aluno, morador da Rocinha, que foi trabalhar na xerox para poder continuar estudando. Poderia rememorar inúmeras outras histórias, e todas apontariam para aquilo que há de mais instigante nessa história: a afirmação do valor da educação, que se dá justamente pelo primeiro presidente da República que chega ao poder sem ter diploma universitário.
Na UFF, onde trabalhei como professora de Filosofia entre 2011 e 2013, vi mulheres negras, muitas já mais velhas, iniciando o curso de licenciatura na esperança de pela primeira vez deixar de ser dona de casa para ser professora de ensino médio. Uma delas me chamava atenção porque vinha do interior do Estado do Rio de Janeiro, no ônibus gratuito oferecido pela universidade, e seu sonho era poder dar aula de Filosofia na escola da sua cidade. Para uma dona de casa cujo roteiro de vida tinha sido tão restrito, transpor as fronteiras do lar para ir a Niterói era ganhar o mundo. A cada aula, a cada texto, mais se fascinava com a história do pensamento, as questões tão abstratas e por vez tão concretas no seu cotidiano. Foi na UFF que tive também uma aluna que era técnica em enfermagem, fazia plantão noturno e vinha direto para a aula de manhã, sempre exausta da dupla jornada. Um dia, eu estava explicando a relação entre saber e poder em Foucault e ela me pediu que explicasse melhor. Dei como exemplo da relação entre poder/saber o domínio dos médicos sobre as nossas vidas, fundado no saber da Medicina. Ela entendeu na hora, oprimida no seu cotidiano de enfermagem por ser mulher, negra e tratada como despossuída de saber. Cada um desses pequenos fragmentos me voltam à memória, e se somam ao meu cotidiano nesses cinco anos como professora na UFRJ, lecionando para alunos e alunas que enfrentam todos os dias pelo menos duas batalhas, a de sobreviver e a de aprender.

O recém-divulgado Censo da Educação Superior contabiliza 8,6 milhões de matrículas em universidades, da graduação ao doutorado, sendo 2,3 milhões em instituições públicas e 6,3 milhões em faculdades privadas, que respondem por 6,2 milhões das matrículas em cursos de graduação e, portanto, têm baixa participação na pesquisa e na formação de quadros de pós-graduação. Tenho alunos e alunas de doutorado oriundos de favelas como Cidade de Deus ou Maré – uma das pioneiras em pré-vestibular comunitário – que estão na universidade mais ou menos desde o início dessa política educacional e só puderam estudar graças às bolsas de auxílio permanência obtidas no ingresso ao curso. São jovens cujos pais, mesmo tendo a educação como valor fundamental, não podiam oferecer a universidade como horizonte.
Embora seja uma crítica ferrenha do modo como foi se intensificando a transferência de recursos públicos para as universidades privadas, independente da qualidade do ensino – com o volume de dinheiro, se poderia ter ampliado ainda mais a rede pública – , toda a minha experiência em sala de aula nos últimos anos foi marcada pela política educacional que permitiu a muitas jovens negras vislumbrarem, pela primeira vez, um percurso profissional fora dos serviços domésticos. O que não é pouco para um país em que 94% desses trabalhadores são mulheres, 61,8% são negros ou pardos e 64% têm menos de oito anos de instrução.
A sala de aula no ensino público – e em algumas raras experiências de escola privada – ainda é o único lugar em que a esperança vence o medo, em que os olhos brilhantes dos jovens e das jovens negras parecem iluminar outra possibilidade de nação. É mais ou menos óbvio que a educação seja o valor máximo para todos aqueles que nunca puderam superar a condição de subalternidade e de vulnerabilidade por não terem estudado. Parte do discurso da naturalização da pobreza sempre passou por aí, só quem estudasse teria oportunidades – na vida, no mercado de trabalho, na sociedade –, e para ter oportunidades era preciso estudar, o que fechava um círculo vicioso de exclusão e interdição. O rompimento dessa lógica colocou a sociedade brasileira em dois lugares antagônicos: no epicentro do ódio de todos aqueles que nunca aceitarão que a subalternidade de pobres e negros não é um dado natural da sociedade brasileira e portanto pode e deve ser superada pela educação; no epicentro da paixão de todos aqueles que, como eu e tantos colegas professores e professoras, nunca aceitarão que a subalternidade de pobres e negros continue sendo tratada como natural e insuperável. Esta é a maior polarização da eleição de 2018, escolha de que lado você está.
Últimas do #Colabora
Relacionadas
Carla Rodrigues
Professora de Ética do Departamento de Filosofia da UFRJ, mestre e doutora em Filosofia (PUC-Rio), e pesquisadora da teoria feminista. Coordena o laboratório "Escritas - filosofia, gênero e psicanálise" (UFRJ/CNPq). É autora, entre outros, de "Duas palavras para o feminino" (NAU Editora, 2013).