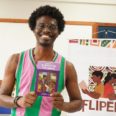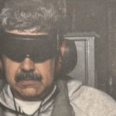ODS 1


Seca histórica do Rio Madeira em Rondônia: impactos na água potável, na produção de alimentos e na pesca (Foto: Leandro Morais / Prefeitura de Porto Velho - 19/09/2024)
Entre a seca e o êxodo, a resistência dos povos de Rondônia
Expansão do agronegócio acirra conflitos e provoca a expulsão de populações tradicionais dos seus territórios
“A gente chama essa terra de abençoada, porque tudo que a gente planta, tudo a gente colhe. Tem essas mudanças climáticas, mas a gente é brasileiro, a gente luta até o final. Não desiste nunca.”
— Simone Alves, agricultora e líder da Comunidade Brasileira, entre o Rio Madeira e o Rio Jamari, em Rondônia.
A fala emocionada de Simone ecoa o sentimento de muitos outros agricultores da comunidade conhecida como Brasileira, localizada na região do Médio Madeira, a cerca de 60 quilômetros da capital Porto Velho. É um grito de resistência em meio à crise ambiental, climática e social que avança pelas margens dos rios amazônicos. Rondônia, um dos estados mais afetados pela devastação da floresta e pela expansão do agronegócio, vive hoje um processo alarmante e silencioso de êxodo rural, no qual populações tradicionais têm sido empurradas para fora de seus próprios territórios.
Leu essas? Todas as reportagens da série especial Vozes da Amazônia na COP30
Segundo nota técnica do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), entre 2023 e 2024 o Brasil enfrentou uma seca de proporções históricas. No período, cerca de 60% do território nacional foi atingido por graus elevados de seca, comprometendo o plantio, o acesso à água potável e à pesca — bases da alimentação e da subsistência de centenas de famílias. Mas os impactos não se devem apenas ao clima. A substituição da floresta por pastagens intensifica os efeitos ambientais: a fumaça das queimadas e o barulho das motosserras atravessam a mata, evidenciando a degradação crescente dos territórios. Aos poucos, as comunidades camponesas, quilombolas e indígenas, dentre outras tradicionais, são encurraladas pela expansão do agronegócio e pela ausência do Estado.
Falar do clima, de fato, é você falar da condição de manutenção das vidas, da reprodução das vidas no campo e do aumento da pobreza, da miséria, da violência bastante desenfreada
Ainda de acordo com a nota, Rondônia esteve entre os estados que enfrentaram a seca por um período de três a quatro meses, dos seis previstos. Com isso, o destino de muitas dessas famílias que deixam seu território é a cidade. E não qualquer cidade. Porto Velho, a capital de Rondônia, é hoje a mais desigual do país, segundo o ranking do Instituto Cidades Sustentáveis, divulgado em 2024. Com um crescimento urbano desordenado, infraestrutura precária e serviços públicos deficitários, a cidade abriga milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade, boa parte delas migrantes internos vindos do interior do estado. A migração forçada e sem planejamento aumenta a pobreza. E a desigualdade social, que já era grave, se intensifica ainda mais.
A Amazônia Legal abriga uma das maiores biodiversidades do planeta, além de desempenhar papel fundamental na regulação do regime de chuvas do continente e no equilíbrio climático global. De acordo com o pesquisador Paulo Artaxo (USP/IPCC), em entrevista para a Agência FAPESP, a floresta funciona como um sistema integrado que exporta umidade e armazena bilhões de toneladas de carbono. No entanto, os povos tradicionais, que historicamente protegem essa área, são os que mais sofrem com sua destruição. A contradição é evidente: enquanto o agronegócio se expande e avança sobre os territórios, boa parte da população rural enfrenta insegurança alimentar, escassez hídrica e violência fundiária.
Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.
Veja o que já enviamosA escassez de políticas públicas voltadas ao fortalecimento da agricultura familiar, à segurança dos territórios tradicionais e à proteção dos recursos naturais acelera esse processo de expulsão: quando o campo não dá mais sustento e ainda traz ameaça à segurança, o único caminho é a cidade, mas sem portas abertas.
A realização da COP 30 na Amazônia brasileira levanta esperanças de que as vozes invisibilizadas da floresta possam ecoar suas realidades internacionalmente. A fala da líder comunitária Simone Alves, como a de tantas outras mulheres e homens da Amazônia, precisa atravessar os salões da COP 30 e lembrar aos líderes mundiais o compromisso firmado no Acordo de Paris, de limitar o aquecimento global a 1,5°C. Mas para isso, é necessário preservar as florestas e proteger quem vive nelas. O ODS 13, “Ação contra a mudança global do clima”, cobra exatamente essa urgência: ações concretas para enfrentar a crise climática, levando em conta a justiça social e territorial.


Crescimento econômico predatório
O crescimento acelerado do agronegócio em Rondônia é frequentemente celebrado como um símbolo de progresso econômico. Os números são expressivos: em maio de 2025, o estado alcançou o segundo maior Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) da região Norte, com R$ 32,059 bilhões, atrás apenas do Pará. O salto representa um crescimento de quase 40% em relação ao mesmo período de 2024, consolidando Rondônia como uma das potências do setor no país.
Esse desempenho é impulsionado pela forte atuação do poder público. Investimentos estatais, políticas de fomento e incentivos à produção de grãos como soja, milho e café têm contribuído para o avanço da atividade rural em larga escala. Dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) mostram que, na safra 2024/25, Rondônia registrou um crescimento de 20,8% na área plantada e de 30,6% na produção de grãos, alcançando uma colheita de 5,42 milhões de toneladas — bem acima da média nacional.
Hoje, a agropecuária é um dos pilares da economia rondoniense. Em 2022, esta atividade foi responsável por 19,2% do Produto Interno Bruto (PIB) estadual, de acordo com o estudo do IBGE realizado em parceria com órgãos estaduais e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA). Com um PIB de R$ 66,795 bilhões, Rondônia se consolidou como o terceiro maior da região Norte, atrás apenas do Pará e Amazonas. A expectativa é que Rondônia assuma a liderança do PIB da região Norte neste ano, com 5,5% do total, segundo a resenha regional do Banco do Brasil, impulsionado principalmente pelo setor agropecuário.
Mas esse cenário de sucesso esconde contradições. Enquanto o setor agropecuário segue crescendo, agricultores familiares, populações tradicionais e originárias continuam à margem desse desenvolvimento. Os benefícios dessa expansão econômica não chegam igualmente a todos. A distribuição dos recursos públicos no Estado revela um contraste expressivo: mais de R$ 470 milhões previstos para a agropecuária, contra pouco mais de R$ 83 milhões para a gestão ambiental. A disparidade expõe uma lógica de desenvolvimento que favorece a produção em detrimento da proteção ambiental.
Apesar do discurso oficial do governo do estado que afirma o compromisso com a agricultura familiar e o desenvolvimento sustentável, é necessário questionar: as políticas públicas realmente atendem quem mais precisa? A resposta parece incerta quando se observa a realidade de famílias como a da agricultora Simone Alves, que vivem às margens do Rio Madeira e enfrentam dificuldades estruturais e ausência de apoio técnico.
O contexto de vulnerabilidades tem se agravado com o avanço das mudanças climáticas. De acordo com o MapBiomas, Rondônia é o terceiro estado da Amazônia com menor cobertura de vegetação nativa: cerca de 39% do território foi convertido em pastagens — destino de mais de 90% das áreas desmatadas no Brasil. O estado integra o Projeto AMACRO — acrônimo que reúne Amazonas, Acre e Rondônia. Lançado em 2021, durante o governo de Jair Bolsonaro, o projeto foi implementado sob a justificativa de promover o “desenvolvimento sustentável” na região. No entanto, na prática, o projeto intensificou a pressão sobre Unidades de Conservação (UC) e Terras Indígenas (TI), principalmente devido à expansão da agropecuária.
Segundo os dados do MapBiomas, divulgados em 2024, em quase quatro décadas, essa região foi responsável por 13% da perda líquida de vegetação nativa da Amazônia. O rastro de destruição coloca em xeque as chances de recuperação da floresta, comprometendo a principal fonte de recursos daqueles que dependem dela para a subsistência. Até setembro do ano passado, 13 dos 32 municípios que compõem a AMACRO já apresentavam áreas de lavouras e pastagens superiores às de floresta. E Porto Velho caminha para essa realidade: caso o ritmo continue o mesmo, até 2037, cerca de 1,7 milhões de hectares estarão ocupados por áreas de agropecuária.
O Relatório Anual de Desmatamento no Brasil (RAD 2024), elaborado pelo MapBiomas, revelou que Porto Velho está entre os 50 municípios que mais perderam vegetação nativa nos últimos seis anos, com uma média de 23 árvores derrubadas por hectare a cada dia. O poder público vem promovendo ações integradas para conter o desmatamento, alcançando alguns efeitos nos últimos dois anos. Em 2024, houve uma redução de 13% na região AMACRO. Ainda assim, quase 90 mil hectares foram desmatados nesta nova fronteira do desmatamento, o que representa cerca de 23% de todo o desmatamento registrado na Amazônia.
A questão que a gente viveu em 2024 foi a seca. Não passou nem cinco meses, a gente se enfrentou com a cheia. A casa foi para o fundo, tivemos que sair. Fiquei morando numa balsa até secar
A correlação entre desmatamento acelerado, violência no campo, insegurança alimentar e crise climática não é uma abstração científica, mas uma realidade sentida pelos rondonienses todos os dias. Isabel Ramalho, agricultora e militante do Movimento dos Pequenos Agricultores (MPA), vive esse cenário na pele: “Você não tem mais certeza de nada. Você não tem segurança do plantio. A gente sabia exatamente o dia de botar a semente de feijão na terra e o dia certo de botar a semente do arroz na terra. Nos últimos três, quatro anos, a gente não consegue mais fazer isso. Fica com a semente guardada e esperando”.
O avanço da agropecuária em larga escala, especialmente com a expansão da soja e da pecuária extensiva, vem sufocando a agricultura de base familiar e agroecológica. Territórios antes voltados ao cultivo diversificado e sustentável estão sendo ocupados por grandes monoculturas, colocando em risco práticas tradicionais e formas de produção que respeitam o equilíbrio ambiental: “A pecuária é grande e extensa, mas agora com a massificação da soja, essas matas na beira dos córregos foram arrancadas. Eles passam com o trator, com o correntão e empurram essa mata para dentro dos córregos”, denuncia Isabel.
A retirada das matas na beirada dos rios e córregos e a contaminação do solo causam não apenas danos ecológicos, mas também impactam diretamente a produção de alimentos, contribuindo para o avanço da insegurança alimentar entre as famílias. De acordo com pesquisa realizada em 2023 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 7,7% da população de Rondônia vive em situação de insegurança alimentar grave, enquanto outros 8,3% enfrentam insegurança moderada. Para Isabel, é necessário pensar um desenvolvimento rural que considere a realidade das comunidades. As soluções devem ser compatíveis e capazes de preservar a natureza e garantir condições dignas de vida no campo.


A perda da previsibilidade climática se soma à pressão de um modelo de produção hegemônico, que marginaliza a agricultura familiar e transforma a soberania alimentar em um ideal cada vez mais distante. Ainda assim, o MPA busca construir alternativas. Isabel ressalta que esse tem sido o pulsar do movimento nos últimos tempos: “Para nós, é muito claro: se quiser resolver o problema da fome nesse país, se quiser garantir assistência alimentar e soberania alimentar, é preciso mudar o jeito de olhar para o campo. Nós somos muito tranquilos com isso, porque é o que temos feito quando usamos o natural, quando a gente usa os nossos próprios insumos, quando a gente utiliza tudo aquilo que a gente tem na propriedade, a capacidade da família camponesa de se realimentar, de se recriar, nos seus ambientes, nos seus territórios, o resultado que essas famílias nos oferecem em produção, é impressionante”.
No entanto, o avanço do agronegócio e da destruição ambiental também resultam em lutas pelo território. Rondônia registrou, em 2024, um total de 132 Conflitos no Campo, segundo dados levantados pela Comissão Pastoral da Terra (CPT). Mais de 54 mil pessoas foram afetadas. O estado ocupa o 4º lugar no Brasil e o 3º na Amazônia Legal. Os conflitos por terra lideram esse cenário e afetam mais de nove mil famílias. Junto com os impactos ambientais que as comunidades têm enfrentado, a violência no campo se alastra. Os conflitos, o desalojamento e o medo caminham lado a lado com o desmatamento. Sem investimento e apoio efetivo do Estado, esse esforço acaba se tornando uma forma de resistência solitária diante de uma máquina que destrói e sufoca quem produz por meio da agroecologia.
Para a militante, a situação tem se agravado visivelmente: “O reflexo disso na vida das pessoas é bastante perceptível, é notório e isso a gente tem que olhar com muita preocupação, porque vai levar a um processo de esvaziamento do campo muito maior do que aquele que a gente já tem, por vários fatores. Então, falar do clima, de fato, é você falar da condição de manutenção das vidas, da reprodução das vidas no campo e do aumento da pobreza, da miséria, da violência bastante desenfreada”, enfatiza.
Mesmo diante da disparidade de forças entre os pequenos agricultores, comunidades tradicionais e originárias, de um lado, e a agropecuária extensiva, de outro, a luta e a resistência persistem por meio da organização e mobilização social para preservar bancos de sementes crioulas e realizar feiras que oferecem alimentos saudáveis. Esse trabalho também integra a luta pela permanência em seus territórios ancestrais, vinculada à defesa da terra, da cultura e dos modos de vida tradicionais.
A mobilização social coletiva tem tomado frente aos impactos e casos de violência no campo. Essa resistência tem se refletido nos números de mobilizações contra o avanço predatório do agronegócio. O relatório de 2024 da CPT também evidencia esse cenário. Foram registradas 26 manifestações de luta no estado, que vão desde acampamentos até atos públicos em defesa dos territórios, dos recursos naturais, da Reforma Agrária, da soberania alimentar, do direito de existir com dignidade e contra as violências e injustiças sofridas.


Do campo vazio à mesa vazia
A comunidade Brasileira abriga dezenas de famílias que vivem de cultivos de banana, macaxeira, milho e da pescaria. Mesmo estando relativamente próxima da sede da capital — aproximadamente 60 quilômetros —, a região ainda enfrenta limitações no acesso a serviços básicos. Sem água encanada ou fontes potáveis disponíveis, os moradores utilizam a água do rio para suas atividades diárias. Até recentemente, a Defesa Civil fornecia água e outros suprimentos à população, mas esse auxílio deixou de chegar: “Não veio mais água, não veio mais cesta de alimento, não veio kit de limpeza, não veio mais nada. Acabou também. Parece que já esqueceram que a gente existe aqui”, relata Simone.
Em outubro de 2024, o rio Madeira registrou a marca histórica de 19 centímetros, a menor desde o início do monitoramento realizado pelo Serviço Geológico do Brasil. A cada ano, mínimas e máximas históricas vêm sendo registradas pelos sistemas de monitoramento. Esses resultados não são impulsionados apenas por fenômenos atmosféricos, como o El Niño, o desmatamento, as queimadas e a expansão agropecuária nos biomas também têm grande influência nesse cenário.
Em 2025, no início do inverno amazônico – período mais intenso de chuvas que começa por volta de dezembro e se estende até meados de maio -, a cheia dos rios trouxe um novo desafio. De acordo com a Defesa Civil, 14 mil pessoas foram afetadas pela subida do rio Madeira. Simone e seus vizinhos, que já haviam enfrentado a seca histórica de 2024, agora convivem com mais perdas e incertezas: “A questão que a gente viveu em 2024 foi a seca. Não passou nem cinco meses, a gente se enfrentou com a cheia. […] A casa foi para o fundo, tivemos que sair. Fiquei morando numa balsa até secar”, lamenta.
O impacto das cheias e da seca nos territórios tem sido devastador. Muitos moradores cogitam deixar suas terras por não conseguirem mais produzir, pescar ou manter suas famílias. As plantações não resistem à estiagem prolongada, e o pouco que sobrevive é levado pelas chuvas. A pesca, antes abundante, se tornou incerta: “Até plantar aqui com aquela lama, não tem como plantar. […] A pescaria tá dando um peixe ali, um peixe aqui. Mas não dá teu sustento para manter a família”.
Durante o período, ações emergenciais foram realizadas para atender as comunidades afetadas. Uma das principais iniciativas foi o SOS Ribeirinhos, força-tarefa que reuniu os governos estadual e municipal em parceria com a sociedade civil organizada para arrecadar e distribuir cestas de alimentos, água potável e kits essenciais, incluindo produtos de higiene e caixas com hipoclorito para o tratamento da água. Apesar dos cadastros realizados por órgãos públicos para apoiar a reconstrução de casas e lavouras, os moradores ainda aguardam retorno. A ausência de assistência efetiva torna a recuperação lenta, difícil e dolorosa para quem já perdeu quase tudo.
Os deslocamentos forçados têm se tornado, cada vez mais, a realidade de milhares de famílias ribeirinhas e camponesas que migraram para as cidades. Às margens dos rios, comunidades enfrentam os extremos climáticos, com secas prolongadas, enchentes recordes e escassez de alimentos. No campo, o avanço descontrolado do agronegócio, somado ao uso intenso de agrotóxicos e aos conflitos fundiários, agrava ainda mais a vulnerabilidade dessas comunidades.
Para onde vão as famílias expulsas de seus territórios? Essa é a pergunta que paira no ar. Quando as plantações morrem, o peixe desaparece e o medo cresce, para onde vão as famílias expulsas de seus territórios, desvinculando-se de seus próprios modos de vida? Simone, por exemplo, relata que sua relação com o lugar é ancestral. Mesmo diante das dificuldades, ela insiste em permanecer. Porém, nem todos resistem às perdas sucessivas e acabam migrando em busca de segurança: “Eu voltei, estou na minha casa de novo, graças a Deus, mas muitos ainda não voltaram, né? Que a casa ficou destruída, aí tem que arrumar tudo de novo, aí dá aquele desânimo, a pessoa não quer voltar mais, porque a pessoa plantou com tanto carinho, tanta coisa, tanto esforço, aí perde tudo. A terra aqui é a nossa vida. Eu posso passar o que passar nessa comunidade, mas eu vou continuar aqui porque aqui eu nasci e me criei”.
Segundo Klézi Martins, representante do Movimento dos Atingidos por Barragens (MAB), o poder público tem falhado por não apresentar respostas estruturantes para a crise que afeta essas populações. Sem planejamento urbano, políticas de acolhimento ou garantia de direitos, a migração rural-urbana em Rondônia tende a aprofundar o ciclo de desigualdade, degradação e uma crise humanitária silenciosa. Para muitas famílias, permanecer na terra é um desejo frustrado, principalmente, pela ausência de condições mínimas de sobrevivência, que as pessoas dessas comunidades enfrentam. “Ela só quer sair de lá porque não tem condições de vida para ficar. Então, assim, o melhor a se fazer é garantir lá na comunidade, para que a pessoa consiga ficar, porque ela quer ficar”, afirma Klézi, representante do MAB.
Os impactos do agronegócio também são sentidos no cotidiano das comunidades, especialmente com o uso de venenos e a concentração de terras, conforme ressalta Klézi: “A gente aqui tá com várias lutas e processos em relação a isso, há denúncias do agrotóxico em algumas comunidades, do avanço, do sufocamento das populações em relação à pulverização aérea, do cercamento, né? Que as pessoas não conseguem trabalhar em outra coisa, porque não tem mais. O único emprego que você tem é na sojeira, no plantio de soja”.
Além disso, Klézi denuncia os reassentamentos forçados promovidos por grandes empreendimentos, como hidrelétricas, que frequentemente transferem famílias para áreas improdutivas, ignorando a história e o trabalho coletivo construído ao longo de gerações: “Aí você tira lá porque a área vai ser inundada pela represa, pelo reservatório da usina, e joga ela num terreno infértil. Até que os produtores, os agricultores que viviam lá já fizeram um trabalho de anos, porque o terreno só foi fértil porque teve os filhos, os avós, os pais, os netos que vieram antes dele, que trabalharam naquela terra para transformá-la em fértil.”
Diante desse cenário, os movimentos sociais vêm atuando diretamente nas comunidades, escutando, formulando e propondo soluções que partam das realidades locais. De acordo com Klézi, a escuta ativa e o envolvimento das próprias comunidades no planejamento são vistos como pontos centrais para se implementar qualquer política pública que vise, de fato, dar respostas sustentáveis: “A gente escuta a comunidade, vê o que eles querem, a partir disso, a gente elabora um projeto e apresenta nas instâncias para conquistar esse recurso para fazer o projeto lá. Porque não adianta nada você fazer um projeto que não fale da realidade e não traga pertencimento para as comunidades. É fazer um projeto fadado ao fracasso.”
Além de identificar e levantar demandas para serem apresentadas ao poder público, o MAB tem buscado firmar parcerias institucionais e desenvolver projetos de formação técnica para fortalecer a autonomia dos territórios. “A gente tem projetos com o IFRO também, que é um instituto federal aqui que a gente vai levar formações e capacitações nas áreas que eles têm interesse”, afirma Klézi.
No centro das reivindicações está um pedido simples e profundo: respeito. Respeito ao território, à natureza e aos modos de vida: “Não é desenvolvimento que a gente quer, a gente quer envolvimento, que é o caminhar respeitando o que é natural, a natureza e o necessário”, resume Klézi Martins.
Reportagem de Amanda Pantoja, Beatriz Eleres, Eveline Mendes, Vinicius Gonçalves, Vitória Rodrigues (UFPA), Carina dos Santos, Clarice Cândido Silva, Fábia Mauller, Fabíola Vanessa e Gabriella Gomes (UFF)
Outras matérias do especial Vozes da Amazônia na COP30
Relacionadas
Conexão UFF UFPA
O Conexão UFF – UFPA é um projeto que reúne alunos dos cursos de Jornalismo da Universidade Federal Fluminense e da Universidade Federal do Pará para a produção de reportagens especiais, sob a coordenação das jornalistas e professoras Adriana Barsotti (UFF) e Elaide Martins (UFPA).