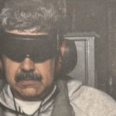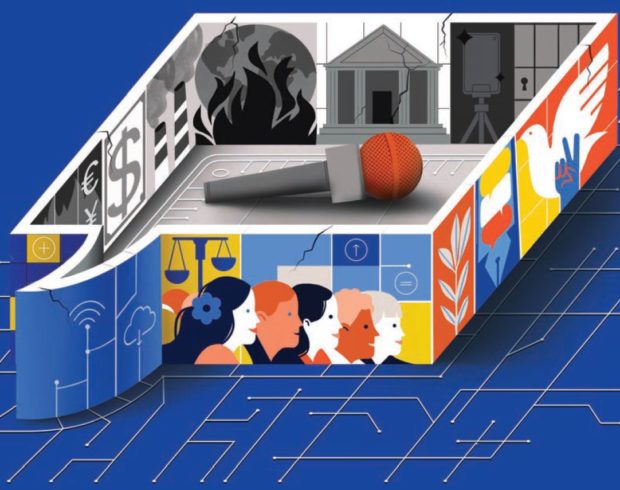ODS 1
Vazamento de petróleo na foz do Amazonas: impactos mais acelerados que desastre no Golfo do México


Estudo mostra que mancha de petróleo poderia alcançar 132 km em apenas 72 horas. Profundidade e correntes oceânicas dificultariam contenção dos danos socioambientais


A abertura de novos campos de petróleo e gás na Margem Equatorial da costa do Amapá é uma das maiores contradições climáticas brasileiras e ameaças ao bem-viver na Amazônia. Além de ir na contramão da redução do uso de combustíveis, responsáveis pelo aquecimento global, o projeto apresenta diversos riscos socioambientais. Um possível vazamento no bloco FZA-M-59 poderia alcançar 132 km em apenas 72 horas e seria mais difícil de conter que o desastre no Golfo do México, em 2010.
Leia mais: Sob protestos, ANP conclui leilão de 19 blocos de petróleo e gás na Foz do Amazonas
A análise é de estudo publicado nesta quarta-feira (01/10) na revista Nature Sustainability e conduzido por cientistas das universidades Federal e Estadual do Amapá (UNIFAP e UEAP), do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA), entre outros parceiros. A pesquisa utilizou modelos de dispersão de óleo em ambientes aquáticos para prever os impactos de um derramamento de petróleo na chamada foz do Amazonas, área de biodiversidade singular e abundante.
Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.
Veja o que já enviamosEm 2010, uma combinação de falhas técnicas e erros humanos levou à explosão e vazamento da plataforma Deepwater Horizon, administrada pela empresa suíça Transocean e operada pela BP. O episódio no Golfo do México matou 11 pessoas e despejou cerca de 5 milhões de barris de petróleo no oceano, equivalente a 780 milhões de litros. O vazamento do poço em água de 1,5 km de profundidade levou mais de cinco meses para ser contido.
No caso da perfuração pretendida pela Petrobras na Margem Equatorial do Amapá, a profundidade do poço seria de 2,88 km (quase o dobro da Deepwater Horizon). Além disso, o estudo analisou variáveis como a vazão do rio Amazonas, marés, ventos e características do ambiente costeiro, como a existência de correntes que correm tanto para o sul quanto para o norte. A conclusão é de que a mancha de um derramamento chegaria até 132 km em apenas três dias, afetando biodiversidade, áreas protegidas e o abastecimento de água em cidades costeiras.
A previsão é de cinco anos para começar a produzir em escala comercial, depois mais cinco anos para pagar o investimento. É claro que ninguém vai querer parar com zero de lucro. Então, significa que vai muito além do tempo que o mundo inteiro deveria parar de usar petróleo como combustível
“Levou cinco meses no Golfo do México com muitas tentativas. Com certeza, iria levar muito mais tempo na foz do Amazonas. Ninguém fez isso nessa profundidade. O licenciamento é só focado na capacidade da Petrobras de resgatar a fauna e levar em 24 horas para a base no Oiapoque, mas é muito mais fundamental a questão de conseguir tapar o vazamento”, alerta Philip Fearnside, pesquisador do INPA e um dos autores do estudo.
A pesquisa expõe as lacunas no processo de licenciamento ambiental do Bloco FZA-M-59, porta de entrada para outros 19 pontos de exploração na região. Concluída pelo Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) em 27 de agosto, a simulação de resposta a um vazamento não responde a pergunta chave mencionada por Philip: como conter um possível vazamento nas condições locais da foz do Amazonas? Essa, porém, não é a única contradição em relação ao projeto.


Impactos socioambientais
O estudo pontua que o encontro do Amazonas com o Oceano Atlântico é marcado pela confluência entre mega-marés com a enorme vazão do Rio. Essa característica explica o fato da região ser uma área crítica para a regulação do clima e para manutenção da biodiversidade de animais e plantas, incluindo sistemas de recifes pouco conhecidos e pesquisados.
A pesca artesanal na costa do Amapá é a principal atividade socioeconômica do Estado e de diferentes comunidades tradicionais que teriam sua segurança alimentar e soberania ameaçadas. Episódios como o derramamento de petróleo no Nordeste brasileiro, em 2019 – que afetou milhares de pescadores – serve de referência para os possíveis impactos em caso de acidentes.
O empreendimento também traz riscos para outros seres viventes ou mais-que-humanos, entre estes estão aves guará ou íbis-escarlate, e mamíferos, como a onça-pintada. No caso desta última espécie, as ilhas Maracá-Jipioca abrigam uma das mais densas populações de onças e são consideradas um berçário regional para esse animal.
Do ponto de vista econômico, um vazamento de petróleo também afetaria a bioeconomia local, baseada em produtos florestais, como açaí, castanha-do-brasil e cacau. O estudo recorda que apenas o açaí na área da Foz do Amazonas movimentou mais de R$ 6 bilhões (cerca de US$ 1 bilhão) em 2023. Independente de um vazamento, os autores ainda alertam que experiências anteriores com royalties do petróleo no Brasil, como no caso do pré-sal, mostraram aumento da desigualdade e outros problemas sociais nas comunidades costeiras, em vez de melhorias sustentáveis.


Contradição climática
“Vai contra todo o discurso do governo de estar lidando com emissões, porque a previsão é de cinco anos para começar a produzir em escala comercial, depois mais cinco anos para pagar o investimento. É claro que ninguém vai querer parar com zero de lucro. Então, significa que vai muito além do tempo que o mundo inteiro deveria parar de usar petróleo como combustível”, aponta Philip Fearnside, doutor Departamento de Ecologia e Biologia Evolucionária da Universidade de Michigan (EUA) e morador de Manaus desde 1978.
O pesquisador do INPA enfatiza o grande descompasso que a exploração da foz do Amazonas representa para todo o esforço de mitigação das mudanças climáticas. Ou seja, mesmo se nenhum vazamento ocorrer, a exploração contraria alerta da Agência Internacional de Energia (AIE), feito em 2021, de que não deveriam ser abertos novos poços de petróleo para limitar o aumento médio da temperatura global em 1,5°C.
O projeto também desmonta a ideia de uma transição energética justa propagandeada pela Petrobras e a ambição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) de ser um líder climático. Sobre esses pontos, Philip recorda de estudo produzido pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), mostrando que apenas 0,16% da renda nacional do petróleo foi destinada às políticas ambientais e climáticas.
Leia mais: Transição energética: tema tabu na COP30
“O próprio ministro de Energia disse que ia explorar petróleo até o Brasil ficar no mesmo nível dos países ricos. Quer dizer, é para explorar para sempre. O próprio Lula falou, com relação ao Amazonas, que não ia jogar fora nenhuma oportunidade para fazer o país crescer”, comenta Philip. O pesquisador também pontua que preservar a Amazônia é essencial para evitar ultrapassar mais pontos de não retorno, o que levaria ao aumento em quantidade e intensidade de eventos extremos do clima.
Como alternativas ao modelo de desenvolvimento baseado em combustíveis fósseis e na visão da natureza como recursos a serem explorados infinitamente, o estudo propõe valorizar a bioeconomia, o turismo comunitário e outras fontes de energia. No caso do Amapá, a pesquisa enfatiza que o potencial de uso da energia solar de apenas 1% da área do estado poderia produzir 50 vezes mais energia do que é consumida por sua população, mais de 700 mil pessoas.
Últimas do #Colabora
Relacionadas
Micael Olegário
Jornalista formado pela Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Gaúcho de Caibaté, no interior do Rio Grande do Sul. Mestrando em Comunicação na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Escreve sobre temas ligados a questões socioambientais, educação e acessibilidade.