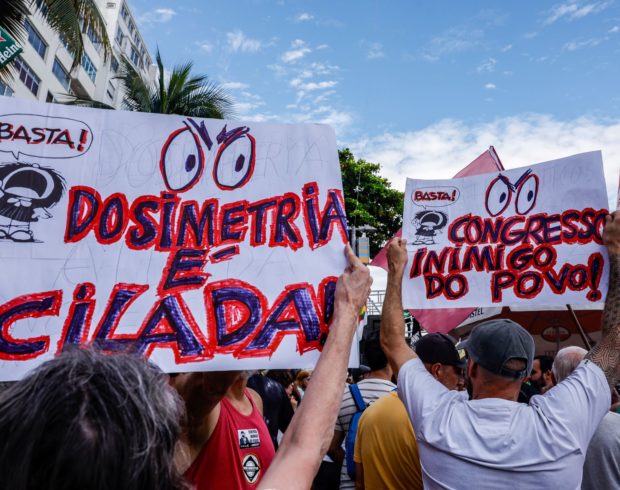ODS 1
Ameaças chegam aos lugares mais remotos


No noroeste do Amazonas, em áreas de difícil acesso, onde nem o fogo chega, indígenas relatam aumento de invasões e até assassinato




(São Gabriel da Cachoeira, AM) – Comparado à parte da Amazônia que queima em Roraima, Rondônia, no Pará e no Acre, o risco de conflitos é pequeno na terra indígena do Alto Rio Negro, que vai até a fronteira com a Colômbia, e menor ainda na aldeia de Irari Ponta, na região do Baixo Rio Içana, afluente do Negro. Na área da comunidade, não há ouro nem os minérios encontrados mais ao Norte da terra indígena, que fica em zona úmida, na Bacia do Rio Negro, e por isso não tem madeira boa para extração. O solo também não é recomendável nem para agricultura, nem para a pecuária, mas Irari Ponta sediou a segunda oficina de meliponicultura do Alto Rio Negro e recebeu moradores de várias comunidades da terra indígena, de onde já começam a vir relatos de invasões ou ameaças, que parecem ter aumentado com a eleição do presidente Jair Bolsonaro.
LEIA MAIS: O lobby do minério na Amazônia preservada
LEIA MAIS: Uma vida em torno da Previdência
Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.
Veja o que já enviamosNa sexta-feira 24 de maio, à noite, encerrada a oficina, Tiago Paché, professor multidisciplinar, relatava o que tinha acontecido de incomum, recentemente, na comunidade onde mora, Barcellos, na margem do Rio Iauiari, já quase na Colômbia. “Chegou um capitão lá do Exército dizendo que ele agora mandava na comunidade, que o presidente tinha autorizado, mas chegou falando isso sozinho e o pessoal não aceitou essa conversa, ele acabou indo embora”. Mais cedo, no Centro Comunitário de Irari Ponta, Meraldino Cordeiro, presidente da Associação Indígena do Baixo Rio Içana (Aibri), tinha contado um caso mais grave. “Mataram um cara lá em Inambu (comunidade na margem do Rio Ayari). Um indígena, estava pescando, foi tiro. Agora que isso está acontecendo perto das comunidades, as pessoas estão mais à vontade pra entrar aqui na nossa terra”.
“O discurso do chefe acontece nas pontas em qualquer lugar do país, ele estimula e faz acontecer também, isso acompanha esse discurso, a força, a invasão de terras indígenas”, afirma André Baniwa, ex-vice-prefeito de São Gabriel da Cachoeira e ex-presidente da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn). “O Bolsonaro tem estratégia de pegar lideranças que pensam como ele, que são minoria. A maioria vê os direitos indígenas como aquilo que fez passar o período triste da história do nosso povo aqui no Brasil, que trouxe plena capacidade civil, deixamos de ser tutelados, portanto, é um processo de autonomia, de protagonismo, junto com o governo, com empresas, dialogando com todo mundo em cima das terras indígenas demarcadas”.


Cinco dias antes da entrevista com André em Manaus, na noite de 22 de maio, o Plenário da Câmara dos Deputados, ao aprovar o relatório da Medida Provisória (MP) 870/2019, devolveu à Funai a competência para demarcar terras indígenas. Editada no primeiro dia do governo Bolsonaro, a MP 870 reduziu o número de ministérios, acabando com as pastas do Trabalho e da Cultura, entre outras, e retirou a Funai da jurisdição do Ministério da Justiça. A Fundação Nacional do Índio foi posta sob a benção da ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves. Com isso, a competência para demarcar terras indígenas foi entregue ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou seja, ao agronegócio. Seis dias depois da votação na Câmara, o Plenário do Senado, por 70 votos a favor e quatro contrários, ratificou a decisão dos deputados federais, mas o presidente, que durante a campanha defendia nenhum centímetro a mais de terra indígena demarcada, não desistiu.
Bolsonaro editou a MP 886, publicada no Diário Oficial de 19 de junho deste ano. Segundo a medida provisória, a reforma agrária, a regularização fundiária de áreas rurais, a Amazônia Legal, as terras indígenas e quilombolas são áreas de competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A Funai ficou no Ministério da Justiça, mas as demarcações voltariam para as mãos do agronegócio se o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso não concedesse liminar suspendendo a medida. Na quinta-feira, 2 de agosto, por unanimidade, o STF decidiu que as demarcações ficam com a Funai, ao vetar a MP do presidente. “Este governo quer é extinguir a Funai, que sempre teve um papel importante para legitimar nossos direitos”, resumiu o professor Carlos de Jesus, do povo Baniwa, durante o primeiro intervalo das atividades do último dos quatro dias da oficina de meliponicultura, no mesmo centro comunitário onde se desenrolou todo o evento.
Do tamanho, mais ou menos, de uma quadra de vôlei, o galpão do centro comunitário tem o maior dos telhados das 22 casas de Irari Ponta, incluindo a igreja, evangélica. Todas foram erguidas em volta do campo de futebol de gramado irregular, duro, e dimensões senão oficiais, perto disso. Pelo menos havia onze de cada lado, alguns de calção, meia ou chuteira, outros descalços, de calça e cinto, todos com espaço suficiente para jogar na pelada disputada na primeira pausa do último dia da oficina.
[g1_quote author_name=”André Baniwa” author_description=”Ex-vice-prefeito de São Gabriel da Cachoeira” author_description_format=”%link%” align=”left” size=”s” style=”simple” template=”01″]O Bolsonaro tem estratégia de pegar lideranças que pensam como ele, que são minoria. A maioria vê os direitos indígenas como aquilo que fez passar o período triste da história do nosso povo aqui no Brasil, que trouxe plena capacidade civil, deixamos de ser tutelados, portanto, é um processo de autonomia, de protagonismo, junto com o governo, com empresas, dialogando com todo mundo em cima das terras indígenas demarcadas
[/g1_quote]Em volta do gramado não há arquibancada nem cerca separando o campo de futebol das casas, mas há uma espécie de pavilhão, erguido a três degraus, altos, do chão. Cabem cerca de quarenta, talvez cinquenta pessoas, todas de pé, na construção de madeira crua, sem cadeira nem nada para sentar, porém coberta. Para quem queria assistir ao jogo, era o único lugar protegido do sol inclemente àquela hora, três e tanto da tarde, além do banco lá longe, bem atrás do gol, já ocupado, todo ele na sombra de duas árvores, por seis adolescentes que mais riam ou brincavam entre si do que prestavam atenção na partida. Sem o acabamento caprichado da pintura das casas da comunidade, o pavilhão do campo de futebol tem a tinta do anúncio em azul, ao lado dos três degraus da escada de entrada: “Apoio: Ver Eder Lopez”.
Atrás do campo maior, como num complexo esportivo, a comunidade de Irari Ponta é dotada ainda de um campo de terra batida, que também tem seu pavilhão, esse ao nível do chão, menor, com ares de bar. Nas paredes estão pintados nomes de marcas de bebidas que provavelmente nunca estiveram por lá. Em cima, a ironia continua com a inscrição “quadra de futsal”, anunciando o campinho de terra batida. Foi com muita piada também, entre risos gerais da plateia, que o professor Carlos de Jesus apresentou a oficina de Irari Ponta, fazendo graça menos em português, mais em baniwa ou nheengatu, a chamada língua geral da região, levada pelos portugueses, derivada do tupi-guarani.


No intervalo, no centro comunitário, Meraldino Cordeiro, também do povo Baniwa, disse que as lideranças da região já planejam alguma ação em resposta ao assassinato que ele relatou e ao aumento das invasões. “Vamos nos juntar pra não deixar invadirem nossas terras, fazer fiscalização, pensar o que pode ser feito”. Entre as opções, o conflito não está descartado. “Antigamente tinha tambor que a gente batia antes do contato. Exército indígena, para não ser atacado, já tinha essa organização”, lembrou Anderson Tomaz Ferreira, que também é professor da educação escolar indígena. Ao lado dele, Meraldino emendou: “Pode ser que uma hora vamos ter que levantar as flechas”. Um pouco atrás, também na conversa sob o telhado do centro comunitário de Irari Ponta, o irmão de Meraldino, Enoq, começou brincando com a situação, lembrando que podiam agora levantar flechas, pistola e espingarda, já que Bolsonaro “quer facilitar pra comprar arma”, mas ele mesmo logo viu o outro lado. “Arma potente é cara, pra nós vai complicar, ficar mais perigoso”.
Na segunda-feira, 29 de junho, a alta comissária da Organização das Nações Unidas (ONU) para Direitos Humanos, a ex-presidente chilena Michelle Bachelet, condenou a morte do cacique Emyra Waiãpi, de 62 anos, líder da Aldeia Mariry, no Amapá. O povo Waiãpi denunciou a invasão da aldeia no sábado, 27, por garimpeiros. Filho de Emyra, Aikyry Waiãpi afirmou que o pai morreu em confronto com invasores. Bachelet, em comunicado oficial, afirmou que a morte do cacique é “sintoma perturbador do crescente problema de invasão de terras indígenas – especialmente florestas – por mineiros, madeireiros e fazendeiros no Brasil”. No mesmo dia do comunicado da alta comissária da ONU, o presidente Jair Bolsonaro disse que não havia, ainda, “nenhum indício forte” de que o líder indígena tivesse sido assassinado. No último dia 16, a Polícia Federal divulgou o laudo da Polícia Técnica do Amapá que não viu sinais de violência no corpo do cacique, sugerindo afogamento como causa provável da morte. Emyra não foi a primeira liderança indígena morta este ano. Em fevereiro, o cacique Tukano Francisco de Souza Pereira, 53, foi assassinado a tiros na casa onde morava, em Manaus, na frente da mulher e da filha de 11 anos.
Mesmo em menor escala, o Alto Rio Negro também tem suas histórias de conflitos. “Já aconteceu, final dos anos 70, na década de 80, por exemplo, com meu tio, Augusto Rodrigues. Os caras chegaram, pediram pra mostrar o caminho pra Serra do Porco, e eles precisavam da ajuda da comunidade pra carregar a draga. É pelo mato, dentro”, conta André Baniwa. O trato, segundo ele, era que os garimpeiros pagassem com ouro pelo serviço, que incluiu a abertura de uma pista de pouso. “Não pagaram, então juntou gente disposta a enfrentá-los, sem espingarda, mas com borduna, pintado, e os guerreiros fizeram isso, expulsaram os caras. Meu pai participou, meu irmão entrou nessa guerra, foram lá, assustaram eles e saiu todo mundo”.
Ainda segundo o relato do ex-presidente da Foirn, os garimpeiros conseguiram se comunicar com um pelotão do Exército em São Joaquim. “Eles tinham um meio de comunicação que ninguém percebeu, deviam ter pacto com os militares na época. Subiram, pegaram o chefe dos índios, e o Exército não podia fazer isso, mas maltrataram ele, colocaram ele pra dormir em cima do fuzil, mas não surraram ele. Quando os guerreiros souberam, juntaram cinquenta espingardas, porque todos já tinham sido garimpeiros, já tinham comprado uma espingarda, os índios, então pegaram cinquenta pessoas e estavam dispostos a voltar na direção pra matar os caras, só que, talvez por sorte deles, os militares soltaram o chefe e por isso não aconteceu nada”.
Outro caso nos anos 80, esse envolvendo o povo tukano, acabou, segundo André, em morte. “Mataram uns dez ou quinze, pra poder respeitar eles lá, porque chegaram mandando, escravizando os caras”. André evita sair de casa quando acontece algum ataque de indígenas ao homem branco. “Fico até com medo de andar na cidade. É muito perigoso. A gente não gostaria que acontecesse isso. Aprendemos muito, tem instrumentos pra você fazer acordo, não é mais como antigamente, mas, se vier a acontecer alguma coisa, pode acontecer pior ainda”.
À noite, com a brisa esporádica, o clima refresca em Irari Ponta. Terminada a oficina de meliponicultura, um grupo vai conversar ao ar livre, perto do pavilhão do campo de futebol, outro se dirige pra mais perto da margem do rio, na direção da casa com o maior número de redes amarradas, onde os visitantes de outras comunidades dormiram as quatro noites por lá, e há quem fique no centro comunitário mesmo, contando história e rindo, como Carlos de Jesus e o diretor da Foirn Isaías Pereira Fontes, que é mais otimista em relação à possibilidade de grandes conflitos no Alto Rio Negro. “No estado do Amazonas a gente nunca chegou no limite, como está no Sul do Pará, que envolve muitas fazendas, agropecuária. Lá são terras limitadas, se ultrapassar o fazendeiro na mesma hora atira. Aqui, por enquanto, ainda estamos no bem viver, que a gente fala, com a preservação, sem ter o trator do lado do seu território, derrubando, ainda não temos essa exploração grande”, disse o diretor da Foirn dois dias antes, na sede da ONG, em São Gabriel da Cachoeira.
Em Irari Ponta, como todos na roda da conversa, Isaias ria de Carlos de Jesus, de novo o condutor principal das histórias, uma delas sobre quando estava servindo no Exército e subiu o Pico da Neblina. “Muito frio, difícil, mas chegar lá no topo é lindo, dá uma emoção, tem um livro, você escreve o teu nome lá, no lugar mais alto do Brasil”, contava o professor, pouco antes de todos irem dormir, lá pelas dez, onze, no máximo meia-noite. No quarto, sozinho, com o Wolverine pintado na parede, entre outros desenhos, com a rede e o mosquiteiro, mais a proteção das águas do Içana, intensamente minerais como as do Negro, com muito menos mosquitos, a noite foi tranquila, até o despertar nos primeiros raios do dia, a tempo de ver o cacique-capitão da comunidade, Ovídio Júlio Cordeiro Pereira, saindo de sua casa atrás do gol do outro lado do campo, carregando o bandejão com as bacias do beiju e do biscoito maisena. Ovídio depositou a bandeja na mesa e foi até o cano pendurado pela corda que é o sino, que o capitão tocou batendo com outro cano, avisando a todos que o café da manhã estava servido.
Depois, feitas as despedidas das comitivas de outras comunidades, os apertos de mãos em fila, partiu também o pessoal da Funai, da Foirn, dando carona a Carlos de Jesus, que ficou em Boavista. Após deixar o parente, amigo, Isaías fez a volta com a voadeira na foz do Içana pra subir um pouco mais o Negro até a comunidade de São Pedro. “Vamos comprar peixe”, avisou. Menor que Irari Ponta, São Pedro tem também igreja evangélica e, ao contrário da outra, onde as crianças estudam em Boavista, tem o casarão da escola, vazio naquela manhã de sábado, quando o pescador levava seus clientes até as gaiolas feitas de frisas de madeira, que boiavam amarradas a bambus, com os peixes presos nas águas do Negro, vivos. “É o freezer dele”, brincou Isaías, já com as compras no barco, antes de dar a partida novamente na voadeira pra começar a descer o rio sob a chuva fina, numa das regiões mais preservadas da Amazônia, onde, apesar do acesso difícil, também aumentaram as invasões, as ameaças de conflito.
Últimas do #Colabora
Relacionadas
Luis Edmundo Araújo
Jornalista, começou como repórter do jornal O Fluminense, de Niterói, e redator da revista Incrível, da Editora Bloch. Trocou tudo pra ser repórter de Cidade do Jornal do Brasil, até sair pra ser repórter da revista Istoé Gente. De 2005 a 2016, foi editor do Jornal do Commercio, editor de Empresas, Economia, Mundo, Rio, SP, Brasília, Minas, Opinião, Direito & Justiça e, principalmente, País. Colaborou com o blog O Cafezinho em 2016 e 2017, e em 2018 participou da aventura da volta do Jornal do Brasil impresso, como editor-assistente de Política. Agora, batalha por uma causa dada como perdida: o jornalismo literário