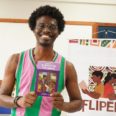ODS 1


Enchentes deixaram milhares de desabrigados e expuseram falhas no planejamento das cidades (Foto: Rafa Neddermeys/Agência Brasil)
Rio Grande do Sul na contramão do envolvimento com a natureza
Mesmo após desastre socioambiental que devastou o Estado, ações de reconstrução preservam o modelo de sociedade e as políticas de exploração ambiental
“A Pampa vai virar agreste? Cinza o azul-celeste? Chumbo no delta do Jacuí?”. Assim questiona um trecho da canção “Pampa”, composta por Clarissa Ferreira e Lucas Ramos. A música denuncia o processo de degradação ambiental que afeta os dois biomas existentes no Rio Grande do Sul: Pampa e Mata Atlântica. Mesmo após as chuvas e enchentes que afetaram mais de 95% das cidades gaúchas, esse processo não foi interrompido.
Leu essas? Todas as reportagens da série especial ‘Enchentes no Sul, um ano depois’
“Estamos vivendo os colapsos dos nossos sistemas socioambientais em função da mudança climática e ela é induzida pela forma como nós agimos sobre o ambiente”, destaca Rafael Cabral Cruz, professor de Gestão Ambiental da Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Rafael foi um dos autores de capítulo do livro “RS: Resiliência e Sustentabilidade: Reflexões para a Reconstrução do Rio Grande do Sul”.
Para Luciana Gomes Miron, professora do Programa de Pós-graduação em Planejamento Urbano e Regional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), falta articulação a nível de bacias hidrográficas e regiões para monitorar e prever ações de mitigação da crise climática. “Não identificamos políticas ou planos multisetoriais que tivessem diretamente relacionados ao planejamento urbano e regional”, sobre estudo feito também para o projeto “RS: Resiliência e Sustentabilidade”.
O que ficou muito latente é que essa divisão político territorial que a gente faz, não tem nada que ver com o meio ambiente. Não tem nada que ver com as bacias hidrográficas e com a geologia
Ao todo, existem 86 rios que correm pelo Rio Grande do Sul, divididos em 25 bacias e três regiões hidrográficas: do Rio Uruguai, do Rio Guaíba e do Litoral. Pela geografia, a água da maior parte do Estado escoa para o Guaíba, incluindo dos Rios Taquari, Jacuí, Caí, Pardo, Sinos e Gravataí. Em seguida, essa água deságua na Lagoa dos Patos e, por fim, no Oceano Atlântico. Essa dinâmica ajuda a explicar o porquê Porto Alegre, construída nas margens e em áreas aterradas do Guaíba, começou a inundar alguns dias após o início das chuvas.
Luciana recorda que o Rio Grande do Sul chegou a assumir a vanguarda das discussões sobre resiliência contra eventos extremos ao criar a Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas, em 2010. Porém, desde então, pouco se desenvolveu em termos específicos dos municípios e regiões. Ela atribui isso, em parte, à falta de recursos e poder de órgãos como os comitês de bacias e os Coredes (Conselhos Regionais de Desenvolvimento).
Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.
Veja o que já enviamos“Embora a estrutura exista, ela não consegue ser efetiva em termos das suas políticas, ações e projetos por estar desestruturada ou desempoderada. E por que isso aconteceu? Muito provavelmente por políticas de enxugamento da máquina do Estado”, explica a professora da UFRGS. Esse elemento político se observa no orçamento destinado para ações climáticas em 2024: R$115 milhões – de um total de R$83 bilhões.
Legislações anti-ambientais
As ações de parlamentares gaúchos demonstram como o modelo de exploração ao máximo da natureza continua vigente. Em dezembro de 2024, a Assembleia Legislativa do RS aprovou o Projeto de Lei (PL) 442/2023 – proposto pelo deputado Marcus Vinícius de Almeida (PP) – que declara a aviação agrícola como atividade de “interesse social, público e econômico”, protegendo o sistema que contribui para a dispersão de agrotóxicos. A proposta entrou em vigor em janeiro como a Lei N.º 16.267/2025.
No início de abril, a Associação Gaúcha de Proteção Ambiental (Agapan) divulgou uma nota de alerta em relação a dois outros PLs que fragilizam ainda mais a preservação do meio ambiente. Uma das propostas – o PL 255/2024 do deputado Professor Bonatto (PSDB) – pretende reduzir as penas para infratores ambientais. Já o PL 218/2023 do deputado Gustavo Victorino (PR) busca criar um “Licenciamento Ambiental Especial”, para flexibilizar as regras para empresas obterem licenças de exploração de “recursos naturais” (como a maioria da sociedade enxerga a natureza).
“Alertamos, novamente, que tais projetos, se transformados em leis, podem produzir relevantes impactos ambientais negativos e, certamente, serão objeto de questionamento judicial e de decretação de inconstitucionalidade”, aponta a nota da entidade.
Presidente da Agapan, Heverton Lacerda recorda que outro projeto semelhante já foi alvo de disputa na Justiça. Trata-se da Lei 16.111/2024 que alterou o código ambiental para permitir a instalação de barragens e outras infraestruturas de irrigação em Áreas de Proteção Permanentes (APPs). Em março, um parecer emitido pelo Procurador-geral da República, Paulo Gonet Branco, apontou a medida como inconstitucional.
A justificativa utilizada para esses projetos geralmente mencionam o papel da agricultura para a produção de alimentos. Heverton pondera que, na maioria das vezes, esse discurso esconde a realidade da produção desenfreada de soja para exportação. “Quando se utiliza a irrigação para uma determinada produção em larga escala, com a de soja, pode-se estar tirando água necessária para as outras produções”. No caso das APPs, esse processo pode também afetar a função dessas áreas na regulação climática e regime de chuvas.
O Supremo Tribunal Federal (STF) também já interveio em tentativa anterior de flexibilizar o licenciamento ambiental para atividades de médio e alto risco ambiental, o chamado autolicenciamento. “Alertamos desde o início que não daria certo, porque não tem como um empreendedor, principalmente de projetos de médio a alto nível de impacto se auto licenciar, sem que os analistas e os técnicos fossem analisar os empreendimentos para dar ou não a licença”, comenta Heverton.


Reconstrução sem ecologia
Como parte do processo de reconstrução do Estado, cerca de R$14 bilhões da suspensão do pagamento da dívida do RS com a União vão ser destinados ao Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs). De acordo com nota do Executivo estadual, o objetivo é utilizar os recursos para ampliar investimentos em obras e projetos de resiliência climática, como “reorganização de cidades, revisão dos planos diretores de municípios afetados pelas águas, reestruturação da Defesa Civil, batimetria dos rios, estações hidrometeorológicas, modelagem hidrodinâmica e mapeamento topográfico”.
Chama atenção, porém, determinados projetos aprovados no Funrigs, como a destinação de R$1,3 bilhões para a concessão de sete rodovias do Vale do Taquari à iniciativa privada. Por outro lado, na lista dos iniciativas previstas não aparece menção à recuperação de matas ciliares e/ou ações de reflorestamento.
A mudança pela tecnologia, com tratores robotizados que não precisam de gente, com uma propriedade produzindo sem contratar ninguém, isso não é desenvolvimento. Isso é predação do sistema natural com alta tecnologia. Isso é um sistema parasitário do ambiente
Rafael Cruz aponta que a sociedade gaúcha ainda não compreendeu a necessidade de mudança de paradigma que o desastre socioambiental evidencia. “É muito raro alguém estar pensando fora da caixinha para essa adaptação e mitigação”. Para o pesquisador da Unipampa, além das obras de infraestrutura e recuperação de rodovias, a reconstrução deveria passar, principalmente, por uma revisão nos modelos de produção e na educação, com a formação de profissionais conscientes da realidade climática.
Morador de Porto Alegre, Heverton critica a postura dos gestores e das “soluções” que repetem a lógica de antes das enchentes. “Qualquer chuva mais forte que acontecer agora, ou em qualquer momento, iria atingir os municípios da mesma forma ou com uma potência maior ainda do que antes”, acrescenta o presidente da Agapan. No final de março, novas chuvas voltaram a causar problemas de abastecimento de água e nas estruturas de proteção contra enchentes.
A capital do Estado, aliás, está sendo alvo de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS). Na justificativa, os promotores apontam as muitas falhas no sistema de proteção contra cheias, afetando bairros e residências que deveriam estar protegidos. A ação pede a indenização de danos morais coletivos e danos materiais e morais individuais às vítimas das enchentes em Porto Alegre.
Modos de planejar e produzir
Luciana Miron lembra que a capital lançou em setembro o seu Plano de Ação Climática, porém, novamente falta articulação com outras esferas e instrumentos normativos. Como exemplo, a pesquisadora aponta que o Plano Diretor não trata das mudanças climáticas. “Na região metropolitana de Porto Alegre, apenas quatro (de um total de 34) municípios têm planos diretores que se referem, mencionam diretamente o termo mudança climática”.
A pesquisadora da UFRGS observa que a situação é semelhante nos municípios do Vale do Taquari, afetados por enchentes desde 2023. “A articulação entre as municipalidades é um desafio institucional”, pontua Luciana, sobre as responsabilidades a serem compartilhadas por diferentes cidades, inclusive, considerando outras interpretações para as divisões regionais.
“O que ficou muito latente é que essa divisão político territorial que a gente faz, não tem nada que ver com o meio ambiente. Não tem nada que ver com as bacias hidrográficas e com a geologia”, destaca a docente. Uma outra possibilidade para esse planejamento aparece no capítulo “Diretrizes do planejamento urbano e regional para uma transição sociotécnica resiliente na Região Hidrográfica do Guaíba”, escrito por Luciana e outras autoras/es para o “RS: Resiliência e Sustentabilidade”, com atenção para os Rios e bacias hidrográficas.
Para Rafael Cruz, é preciso reconhecer que a crise climática contemporânea tem a ver com o modelo de civilização e as lógicas de acumulação desenfreada de capital. O pesquisador ilustra isso com exemplos sobre o bioma Pampa, com avanço das monoculturas e da mecanização do campo, processos que têm gerado quedas no número de habitantes de cidades como São Gabriel (RS), onde está localizado o Campus da Unipampa em que Rafael atua.
“A mudança pela tecnologia, com tratores robotizados que não precisam de gente, com uma propriedade produzindo sem contratar ninguém, isso não é desenvolvimento. Isso é predação do sistema natural com alta tecnologia. Isso é um sistema parasitário do ambiente”, aponta. Uma das consequências desse processo é a redução de áreas de banhado e da capacidade dos solos em armazenar água, o que ajuda a explicar o fato de São Gabriel conviver desde 2020 com decretos de emergência devido à estiagem (com exceção de 2024, quando ocorreram as chuvas intensas).
Leia mais: Seca extrema castiga agricultores gaúchos antes e depois dos temporais
“A substituição de vegetação nativa por por práticas monoculturais alteram o comportamento do balanço hídrico, o que agrava tanto a absorção de água durante períodos de chuvas intensas, como também reduz o armazenamento de água no solo, agravando os períodos seca” explica Rafael, autor de “Uma pequena história ambiental do Pampa”, sobre as relações entre a sociedade e o bioma.


Caminhos
As enchentes no Rio Grande do Sul mostraram que, além das mudanças climáticas a nível global, o que acontece no âmbito local intensifica eventos extremos. A degradação histórica do Pampa, por exemplo, fez com que a água chegasse com mais força nas áreas de Mata Atlântica e em Porto Alegre. “Degradar Banhados, áreas úmidas, mata ciliares, compactar os solos com mecanização e monocultura, acelera o escoamento das águas e faz com que ela chegue mais rápido à região metropolitana”, exemplifica Rafael Cruz.
A dragagem e canalização de rios, alternativas discutidas no âmbito estadual, têm potencial de agravar ainda mais esse processo. “Não pensam em como reservar a água nas florestas, como aumentar a resiliência dos sistemas, usando práticas que fortaleçam a resiliência ecológica e ambiental”, acrescenta o professor da Unipampa.
Em relação às cidades, Luciana Miron indica a importância de um diálogo e um trabalho coletivo de planejamento urbano, considerando também a questão socioeconômica e a ligação das pessoas com seus territórios. “Realmente algumas faixas vão ter que ficar somente com praças ou parques que possam ser inundados. Existem soluções, mas é algo muito delicado, não se pode dizer assim: as pessoas não podem morar aqui. O que talvez se possa considerar é um rigor muito maior na permissão de novos loteamentos em áreas ainda não urbanizadas”. A docente recorda ainda que essas ocupações irregulares nem sempre são feitas por populações mais vulneráveis.
Como alternativa, Luciana aponta a educação climática, o que passa pelas populações serem ensinadas a lerem os riscos e estarem preparadas para agir em eventos extremos. Do ponto de vista dos bairros, isso significa ter locais seguros identificados e conhecidos. “Temos que evoluir para algo mais integrado à natureza e que realmente se adapte e tenha respostas mitigadoras e mais adequadas ao que está acontecendo”, complementa a pesquisadora da UFRGS.
Apoie o #Colabora
Queremos seguir apostando em grandes reportagens, mostrando o Brasil invisível, que se esconde atrás de suas mazelas. Contamos com você para seguir investindo em um jornalismo independente e de qualidade.
As ponderações e explicações de Luciana e Rafael indicam a importância de enfatizar algo que pode ser óbvio para alguns, o desastre socioambiental no Rio Grande do Sul é político e não culpa dos Rios e da água. Resta escutar o que cantam Clarissa Ferreira e Vitor Ramil, “Pra pampa não virar agreste. Nem cinza o azul-celeste. Salve o Jacuí”, e o que sempre defenderam os povos originários do Rio Grande do Sul e do Brasil: nós também somos natureza.
Outras matérias do especial Enchentes no Sul, um ano depois
Relacionadas
Micael Olegário
Jornalista formado pela Universidade Federal do Pampa (Unipampa). Gaúcho de Caibaté, no interior do Rio Grande do Sul. Mestrando em Comunicação na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). Escreve sobre temas ligados a questões socioambientais, educação e acessibilidade.