ODS 1
Simone Biles e o direito de ser ‘apenas’ humana

Maior estrela das Olimpíadas de Tóquio, ginasta pisa no freio pela própria saúde mental e joga luz sobre a massacrante (e bilionária) indústria do esporte de elite

A prometida maior estrela dos Jogos de Tóquio despiu-se da fantasia de “extraterrestre” para se exibir em carne e osso, angústias e limitações – humana, em resumo. Simone Biles, assombro americano da ginástica artística, abandonou a final por equipes de seu esporte em nome do próprio bem estar. “Preciso cuidar da minha saúde mental”, avisou após marcar 13.766 no salto olímpico, sua pontuação mais baixa. Diante da pressão massacrante, desumana, a atleta evocou seus limites, clamando ao planeta que é… gente.
Mais: Rebeca Andrade, Daiane dos Santos e a falta de cultura esportiva no Brasil
“Depois da apresentação que fiz, simplesmente não queria continuar. Temos que proteger nossas mentes e nossos corpos e não apenas sair e fazer o que o mundo quer que façamos”, ensinou a ginasta, 24 anos, quatro medalhas de ouro olímpicas e 19 mundiais.
Mais: Projeto de badminton em favela carioca revela talentos olímpicos
Ela voluntariamente trocou de papel na odisseia inclemente de recordes, superação de limites, multiplicação de vitórias e medalhas. Recusou-se a continuar como alicerce de um show que, para enfeitiçar a humanidade, precisa funcionar em permanente espiral. Nos Jogos atravessados pela covid-19, com o prejuízo da falta de público e sob questionamento planetário, a bola da vez era a americana de 1,42m, 47kg, negra. Mas bem no meio da festa dos cartolas, ela resolveu exercer seu direito a um basta.
“Não confio mais tanto em mim mesma. Talvez seja o fato de estar ficando mais velha. Não somos apenas atletas. Somos pessoas, afinal de contas, e às vezes é preciso dar um passo atrás”, ponderou Biles. “Eu não queria ir lá, fazer algo estúpido e me machucar. É tão grande, são os Jogos Olímpicos. No fim de tudo, não queremos sair carregados em uma maca”, concluiu, garantindo a medalha de ouro em discernimento e sensatez.
São pensamentos e reflexões malditos na zilionária indústria do esporte, que não admite dilemas nem fraquezas de seus astros. Sanidade mental não é uma agenda. No próprio caso da ginasta, a consequência mais destacada pelo noticiário, a partir da decisão dela, foi a derrota dos EUA para as russas na competição por equipes – o resultado. Biles mantém aberta a possibilidade de disputar as finais individuais – mas deixa, em sua segunda participação olímpica, a marca de uma atitude corajosa, única.
Ela não está sozinha no sofrimento. Maior ganhador da história dos Jogos, o ex-nadador americano Michael Phelps – 23 ouros em quatro Olimpíadas, sendo oito (recorde), numa única edição, Pequim/2008; e 37 marcas mundiais – revelou sofrer de depressão desde os tempos de atleta. Chegou a pensar em suicídio, logo após os Jogos de Londres (2012), quando, ao conquistar seu 19º ouro, tornou-se o maior campeão da história olímpica. “Eu não queria estar mais no esporte, eu não queria estar mais vivo. Na verdade, após cada Olimpíadas eu me sentia em um grande estado de depressão”, descreveu, em 2018.

O esporte de alto rendimento, em especial os individuais, tem muito mais de doença do que de saúde. A luta patológica por superação, pela vitória dia após dia, domina a existência dos atletas, no patamar das mais agudas obsessões.
Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.
Veja o que já enviamosAinda em Tóquio, a tenista Naomi Osaka, número 2 do mundo, escolhida para acender a pira olímpica, acabou eliminada, ao perder nas oitavas-de-final para a tcheca Marketa Vondrousova, 42ª do ranking. Foi um breve retorno da japonesa ao esporte, após alguns meses parada, também por causa de depressão. Em maio, ela – filha de um haitiano e de uma japonesa, ativista antirracista e pelo empoderamento feminino – decidiu abandonar o torneio de Roland Garros, na França, um dos quatro mais importantes do circuito, alegando preocupação com a saúde mental.
Outra lenda do tênis, o americano Andre Agassi narra angústia semelhante na sua magistral autobiografia, lançada em 2009. Ele sempre detestou praticar o esporte, mas seguiu na carreira por imposição do pai, que obrigava o filho, ainda criança, a rebater 2,5 mil bolas por dia, para acumular 1 milhão em um ano. A máquina lançadora de bolas se assemelhava a um monstro para o garoto, numa imagem que o perseguiu pela vida.
Não por acaso, Agassi foi primeiro do mundo, despencou para além da 100ª posição do ranking e depois voltou ao topo, numa gangorra enlouquecedora. Terminou a carreira com 61 títulos, US$ 31 milhões em prêmios e cicatrizes profundas, eternamente doídas, da vida no esporte.
O dinheiro se destaca entre os argumentos para desqualificar a humanização dos atletas. Distante do olimpo material de mansões, barcos, férias, em lugares paradisíacos, aviões particulares – e poder – os viventes comuns zombam do sofrimento e, como o público do Coliseu romano, exigem mais espetáculo, a qualquer custo. Exploradores do talento alheio, os cartolas vão junto, desfrutando do poder que o encanto pelo show esportivo produz. Na conta que parece precisa a olho nu, os astros são fartamente remunerados, sim – mas a solidão, o fastio, a dor, o tempo, os limites do corpo cobram preço igualmente alto.

Nos esportes coletivos, conceitualmente menos cruéis, há a mesma urgência de humanização. Jogadores de futebol no futebol são pressionados desde a infância, em nome do sonho de eliminar as agruras financeiras da família. Transformam-se em trabalhadores com 8 ou 9 anos, entregam a adolescência aos treinos, concentrações e jogos; quando prosperam, muitas vezes precisam aceitar destinos diferentes do desejado, de novo em nome do dinheiro.
Como Simone Biles, Adriano Imperador permitiu-se o não. Amado por várias torcidas no Brasil e na Itália, negligenciou o físico, numa autossabotagem que deu no fim precoce da carreira. Hoje, vive feliz frequentando a Vila Cruzeiro, no Conjunto de Favelas da Penha, comunidade popular onde nasceu e da qual tem comovente orgulho.
“Quem olha de fora não entende, cara. E quando falam do Brasil, quando falam das crianças das favelas? Eles sempre pintam um quadro distorcido. É sempre dor e miséria. E sim, às vezes, é isso mesmo. Mas também é complicado. Quando penso em como foi crescer na favela, eu me lembro, na verdade, de como a gente se divertiu. Joguei bola de gude, empinei pipa, soltei pião… Eu estava cercado pela minha família, pelo meu povo. Eu cresci na comunidade. Eu tinha liberdade. Eu não sofri”, contou, em depoimento ao Player’s Tribune. “Sim, talvez eu tenha desistido de milhões. Mas quanto vale a sua paz de espírito? Quanto você pagaria para ter de volta a sua essência?”
Simone Biles parece ter encontrado a resposta.
Aydano André Motta
Niteroiense, Aydano é jornalista desde 1986. Especializou-se na cobertura de Cidade, em veículos como “Jornal do Brasil”, “O Dia”, “O Globo”, “Veja” e “Istoé”. Comentarista do canal SporTV. Conquistou o Prêmio Esso de Melhor Contribuição à Imprensa em 2012. Pesquisador de carnaval, é autor de “Maravilhosa e soberana – Histórias da Beija-Flor” e “Onze mulheres incríveis do carnaval carioca”, da coleção Cadernos de Samba (Verso Brasil). Escreveu o roteiro do documentário “Mulatas! Um tufão nos quadris”. E-mail: aydanoandre@gmail.com. Escrevam!

































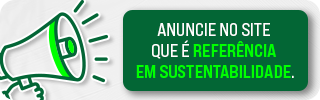

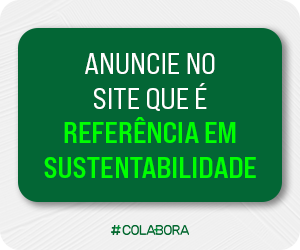








Aydano, adoro ler suas matérias, inteligentes e coerentes!