ODS 1

Especialidade médica: saúde LGBT+
Estudantes de medicina identificam carência no atendimento à população LGBTQIA+, e se unem para tornar as práticas médicas mais inclusivas
Estudantes de medicina identificam carência no atendimento à população LGBTQIA+, e se unem para tornar as práticas médicas mais inclusivas
“Conceitos importantes” é o título da apresentação virtual da estudante universitária Lara Lemos para colegas do seu grupo de extensão do curso de medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Um bonequinho acena para a tela, e setas partem de seu corpo com definições como “papéis sociais”, “orientação sexual” e “expressão de gênero”. Escalas diferentes ilustram outros conceitos, como pluralidade de identidade de gênero (homem, mulher, não-binária), orientação sexual (como homossexual, bissexual, assexual e heterossexual) e aparência/expressão de gênero. Formado em 2019 por colegas de faculdade que se identificam como LGBTQIA+ e que sentiam falta de algum tipo de educação sobre essa comunidade na grade de Medicina, o grupo de extensão reúne semanalmente estudantes da área de saúde de toda a universidade, voltado para as questões de saúde LGBT+.
Mais: O problema não é ter dúvidas sobre qual sigla usar, é achar que é um alfabeto e debochar
Dados do Dossiê Saúde das Mulheres Lésbicas mostra que 40% das lésbicas ou bissexuais não revelam sua sexualidade em consultas médicas. E muitos profissionais que trabalham na saúde pública nem sabem o que é o termo transexual. Todos os profissionais de saúde vão precisar se atualizar. No 28 de junho passado, Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+, o ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes determinou que o Ministério da Saúde adote medidas em benefício do atendimento igualitário a pessoas trans e travestis e em respeito à identidade de gênero no SUS. O paciente deve ser atendido de acordo com sua autodeclaração de gênero, e não do sexo biológico, entre outras medidas.
O ensino da medicina ginecológica é focado na experiência heterossexual. A desinformação dos profissionais pode causar desde má orientação e constrangimento até atos de violência homofóbica ou transfóbica. Existe a crença infundada de que mulheres que fazem sexo com mulheres não têm infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Isso sem falar de pessoas trans, ou não-binárias, que evitam ir ao médico por medo de sofrer transfobia. Essa falta de confiança entre médico e paciente compromete a saúde LGBT+.
[g1_quote author_name=”Lara Lemos” author_description=”estudante de medicina da UFRJ” author_description_format=”%Muitos profissionais formados não sabem tratar uma pessoa não cisgênero, ficam assustados e a consulta não vai para frente. É a gente que vai ter que fazer a mudança. Temos que sair da faculdade capazes de atender a toda a população
[/g1_quote]A estudante do 5º ano de Medicina Lara Lemos, de 21 anos, bissexual, quer se especializar em ginecologia obstetrícia, e sentiu muito a falta de uma educação aprofundada sobre atendimento médico para pessoas LGBTQIA+. “Muitos profissionais formados não sabem tratar uma pessoa não cisgênero, ficam assustados e a consulta não vai para frente. É a gente que vai ter que fazer a mudança. Temos que sair da faculdade capazes de atender a toda a população. Qualquer pessoa que entrar na Unidade Básica de Saúde ou na Clínica da Família tem que ser atendida, independentemente de gênero, de sexualidade”, observa.
Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.
Veja o que já enviamosOs integrantes do grupo de extensão dão aulas de educação da saúde de LGBTQIA+ para os alunos de medicina da UFRJ, e realizam palestras para profissionais da área. O grupo preparou uma apresentação sobre a saúde de pessoas transexuais e travestis para os funcionários que vão atuar em um novo ambulatório, que será aberto em parceria com os institutos de Psiquiatria e de Ginecologia da universidade. O ambulatório vai atender aos pacientes T da sigla: pessoas transexuais e travestis, parcela da população muito vulnerável.
A pessoa trans sofre todo tipo de violência no Brasil, país em que mais se matam transexuais e travestis no mundo, segundo a Transgender Europe (TGEu), organização sem fins lucrativos que monitora 71 países. “O grupo é formado por alunos que se identificam como pessoas LGBTQIA+. Temos um olhar como estudantes da área de saúde e, também, a perspectiva de pessoas que utilizaram ou vão utilizar esses serviços de saúde”, observa Deborah Cavalcante Coelho, estudante lésbica de 21 anos do curso de Saúde Coletiva da UFRJ.
Mais: Empresas lançam programa para preparar pessoas trans para mercado de trabalho
Grupo discute saúde LGBT+ e, também, práticas sociais
O grupo de extensão não aborda somente práticas biomédicas, mas também ensina sobre as dificuldades sociopolíticas que afastam o público LGBTQIA+ do sistema de saúde do Brasil. Essa foi a razão para Deborah se envolver no projeto: a preocupação social. “Prática biomédica os alunos estão cansados de ver no curso. Falta preocupação com as práticas sociais”. Pesquisa promovida pelo coletivo #VoteLGBT indicou que, antes da pandemia, 28% de pessoas LGBTQIA+ tinham diagnóstico de depressão, frente a 5,8% da população geral. “Isso não tem nada a ver com orientação sexual, mas sim com a falta de aceitação, e isolamento, que essas pessoas sofrem na sociedade”, completa Lara.
Um outro aluno da UFRJ que também faz parte do grupo de extensão e prefere não se identificar, cursa licenciatura em biologia. Ele oferece um olhar de fora da medicina sobre a questão LGBTQIA+ e conta que sentiu na pele a diferença como as pessoas são tratadas nas casas de saúde no Rio de Janeiro: “Eu, como homem cis homossexual, fui maltratado na Clínica da Família. O serviço público está despreparado para atender pessoas assim”. De acordo com o futuro biólogo, cabe aos jovens profissionais mudar isso. “As gerações precisam deixar marcas”, observa.

Na Faculdade Souza Marques, particular, jovens estudantes de saúde LGBTQIA+ também se preocupam em aprender e ensinar mais sobre atendimento inclusivo. Lucas Velasquez dos Santos, homem trans de 21 anos, no 3º ano de Medicina, integra o coletivo LGBTQIA+ da faculdade, que visita as turmas para informar. O estudante já usava as redes sociais para conscientizar amigos e familiares sobre respeito, modo de tratar e outras questões relacionadas à comunidade LGBTQIA+. Quando entrou na faculdade, seu Instagram passou a ser mais voltado para as questões de saúde. “A desinformação sobre pessoas transexuais e travestis dentro do sistema de saúde é muito grande”, lamenta.
Dentro da faculdade, Lucas percebe que os alunos mais novos são os que mais procuram saber sobre o atendimento LGBTQIA+: “Quem não se importava nem conhecia a causa LGBTQIA+ antes não faz questão de aprender, não procura informação. E são pessoas da área da saúde, as que deveriam ser as primeiras a se preocupar”.

Eu definia ginecologia como ‘saúde da mulher’, que é uma forma errada de tratar, porque homens trans precisam de atendimento ginecológico também
[/g1_quote]Foi fazendo uma pesquisa para um artigo sobre saúde ginecológica de pessoas transexuais que Catarina Mocellin, de 22 anos, bissexual, do 5º ano de medicina também da Souza Marques, mudou sua própria visão em relação a esse tema. “Eu definia ginecologia como ‘saúde da mulher’, que é uma forma errada de tratar, porque homens trans precisam de atendimento ginecológico também. São termos como esses que a gente acha inocentes que acabam afastando ainda mais a população”, observa Catarina, que quer trabalhar com ginecologia obstétrica, principalmente atendendo pessoas LGBTQIA+.
Maria Gabriela Socci, estudante do 4º ano de medicina da Souza Marques, é outra que quer ser ginecologista obstetra. Ela participou do mesmo trabalho acadêmico que Catarina, e se chocou com a baixíssima expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil, que é de 35 anos, enquanto a da população geral é de 75 anos. Dados do Relatório: Observatório de Mortes Violentas de LGBTI+ no Brasil, feito anualmente pelo Grupo Gay da Bahia, revelam que uma pessoa da comunidade morre vítima de suicídio ou homicídio a cada 36 horas, sendo mais altas as taxas de pessoas trans. A violência mais comum não é necessariamente física: uma palavra preconceituosa, um olhar torto são atos de violência.
“Muitas coisas são possíveis para a população trans, como a cirurgia de redesignação. Mas o básico da atenção primária não chega. E isso é muito triste”, diz Maria Gabriela.
Maria Gabriela observa que não é só o sistema de saúde que falha para trazer esses pacientes para perto, como eles também muitas vezes não recorrem ao serviço de saúde por medo, baseado em experiências ruins prévias: “Isso deveria ser discutido pelo currículo tradicional, mas ainda não é. Então, cabe ao estudante de medicina procurar ativamente e se aprimorar”.
A maior parte da população trans no Brasil trabalha com prostituição. Essas pessoas têm medo de sofrer transfobia se forem ao médico, e muitas vezes não conseguem acesso direto e seguro a hormônios femininos. O que faz com que essa população use hormônios errados ou doses exageradas. Tudo isso pode prejudicar a saúde dessas mulheres trans.
“Isso não é responsabilidade da população trans, mas do grupo médico para que essa discrepância entre pessoas cis e pessoas trans mudem. Existe uma grande necessidade de médicos novos entrando nessa área, porque já é tarde, muito tarde para continuar tratando a população trans dessa forma”, diz Catarina.
Ela acredita que existe uma preocupação maior de estudantes jovens na área de saúde LGBTQIA+ porque o grupo vem ganhando mais reconhecimento. “Antes as pessoas lutavam para ter direito de viver. Hoje as pessoas querem muito mais que isso, elas querem ter uma vida plena, saúde igual a todo mundo, não querem ser discriminadas por conta de sexualidade ou do gênero. Quem tem visto essa revolução da população LGBTQIA+ são as pessoas jovens”, afirma a futura médica.
Mais: Pandemia interrompe serviços de prevenção e tratamento de HIV
O projeto tem como apoiadoras as professoras Michelle Pedrosa e Erotildes Maria Leal. Médica com experiência na área de Saúde Coletiva e especializada em câncer de colo do útero, Michelle notou uma mudança clara na UFRJ: “Percebi a força da pauta LGBTQIA+ com a entrada de um alunato que via o mundo de forma diferente e provocou uma revolução em toda a universidade. Os professores mais tradicionais de medicina receberam o recado. Não é mais para fazer piadinha com minoria, não dá mais para brincar com isso”.
A professora percebeu que as questões de saúde LGBTQIA+ precisavam ser viabilizadas a partir da demanda dos alunos: “Não dava para ficar parada, olhando o movimento”.
Quando entrou na faculdade, Anna Carolina Bittencourt, estudante de medicina de 22 anos, do 5º ano da Souza Marques, não esperava abertura com os professores para falar sobre saúde LGBTQIA+, e se surpreendeu positivamente. “As coisas mudaram, as pessoas têm uma liberdade maior para se descobrirem do que tinham antigamente”. Mas completa: “Ainda falta muito para o ambiente institucional perceber as demandas da sociedade atual”.
Falta, por exemplo, um protocolo único para lidar com essas minorias. “O médico vai aprendendo no feeling, e o paciente também. É um compartilhamento de saberes. O que a gente fala para eles é: pergunte, não assuma nada”, observa Lara Lemos, do grupo de extensão da UFRJ. “O que falta é estrutural, o Ministério da Saúde fazer um protocolo direito. Mas acho que isso só vai começar a partir de uma demanda dos próprios médicos”, acredita.
Outras matérias do especial #Colabora Universidade
Giovana Chiconelli
Giovana Chiconelli é formanda de jornalismo da PUC-Rio e apaixonada por histórias desde pequena, quando não conseguia desgrudar os olhos de um livro ou uma tela. Acredita que a forma de promover aceitação à diversidade e democracia é por meio de uma história bem contada.
































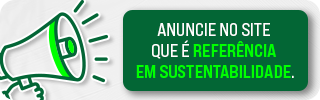

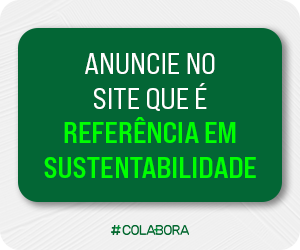








Especialmente, na chamada sexualidade masculina, poucas são as exceções de médicos que avaliam todo contexto: prostata, penis e testiculos! Quando fui a um dos raros andrologistas e, antes mandei um email a ele, fez questão de me preparar ao exame! No dia eu de cueca, ele disse que corpo cisgenero! Deu de perceber ele tendo discreta ereção e, comentou esse ser mais um tabu ao médico, quando o paciente, fisiologicamente, vai tendo aproximado o momento do orgasmo e/ou ejaculação! Ainda comentei que atração faz parte, ejaculação expontanea também, afinal tais atrações podem acontecer em shoppings e ruas, também e, os hormonios afloram, mas claro a transa somente com pessoas que conhecemos e consensualmente! Carinhoso perguntei se podia levar a mão a ereção dele, consentiu e disse que a escolha pela especialidade, foi quando na Faculdade, indo ao banheiro, outro academico indo ao box comentou: nem tudo são flores (iria defecar)! A cordialidade dele, comoveu o médico!