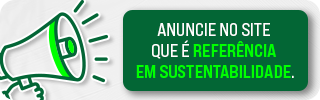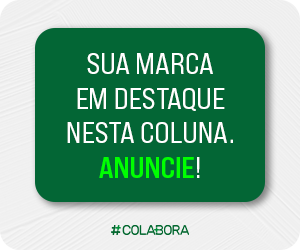ODS 1
Receba as colunas de Aydano André Motta no seu e-mail
Veja o que já enviamosA guerra de cada um – de novo, de novo, de novo
Na maior chacina registrada do Brasil, morrem 121 no Complexo do Alemão, para nada mudar no museu de grandes novidades da segurança pública
Explode mais uma crise de segurança no Rio de Janeiro, a cidade se paralisa diante dos sons e imagens que traduzem a tensão insuportável. Em seguida ao óbvio medo, vem o desamparo, a partir da realidade apocalíptica, sem solução visível. Soma-se o horror que acompanha o banho de sangue ao mesmo tempo repetido e crescente. A temperar tudo, a tristeza arrasadora – ao menos nos que mantêm o mínimo de humanidade e empatia.


(Foto Tomaz Silva /Agência Brasil)
E a palavra renasce, dramática, estratégica, conveniente a interesses espúrios: é guerra!
Viu essa? “Matança produzida pelo estado”
#sóquenão. Rotular a matança de 117 pessoas (ou mais) realizada por agentes do Estado, e o troco dos traficantes, que ceifaram quatro policiais, de guerra está dolosamente errado. O termo serve somente para naturalizar brutalidades que, em verdade, infringem a lei. Crimes, como os praticados pelos alvos da polícia.
(Spoiler: esse artigo vai se apropriar de conceitos, relatos e diagnósticos escritos em outro, pelo mesmo autor, sete anos atrás, momento de crise semelhante à atual. Serve, também, para atestar que, na segurança, só saímos do lugar para piorar a situação.)
Guerra é outra coisa, de natureza muito diferente. Lançar o vocábulo em conversas coloquiais, tudo certo; está nos preceitos da democracia. Quando ganha contornos oficiais ou acadêmicos, em pronunciamentos de autoridades ou diagnósticos de pretensos especialistas, vira má fé ou ignorância – e não serve, de um jeito ou de outro.
Muitos aspectos e protocolos diferenciam as guerras. A Convenção de Genebra, por exemplo, prevê proteção específica aos civis, punições aos países que não respeitam as regras e até tratamento especial aos prisioneiros, diferente dos detentos comuns. Além disso, numa situação de guerra (Rússia x Ucrânia, por exemplo), há inimigo claro, identificado. No caso do Complexo do Alemão, é contra quem? O Comando Vermelho está muito longe de ser uma nação inimiga.
(Aqui, pode-se lembrar de que certa elite brasileira encara favelas e periferias como territórios hostis a serem eliminados do mapa. Mas aí mudaríamos de tragédia, entre as muitas que atravessam esta terra ensolarada.)
Em artigo de 2010, João Paulo Charleaux sublinha que guerra é, por definição, conflito entre as Forças Armadas de dois ou mais países. “Dizer o contrário traz mais problemas que soluções à população, embora a imprensa tenha no uso do termo uma de suas muitas muletas úteis – como na guerra contra a dengue, a fome, o câncer”, pondera.
Michel Misse (1951-2025), sociólogo da UFRJ, dos maiores estudiosos de segurança que o Brasil já teve, ia na mesma direção. “Não se pode confundir conflito urbano, envolvendo criminalidade, com guerra. Se tivermos realmente uma guerra, vamos chamá-la com que nome? Guerra implica reconhecimento da soberania em disputa, justificação da violência e possibilidade de armistícios ou rendição incondicional”, detalhou, em 2007, argumentação totalmente atual. “Não há esse cenário no Rio, é uma criminalidade violenta que só pode ser controlada, jamais totalmente eliminada”.
Ainda na disputa das palavras – mais importante do que parece –, as ocorrências no Complexo do Alemão foram, sim, uma chacina. Está catalogada no Dicionário Oxford como “substantivo feminino”, em dois significados objetivos:
- “Assassínio em massa, geralmente com crueldade; matança, mortandade, morticínio.
- “Alimentação. carne suína ou de gado vacum cortada em postas, salgada e curada.”
Aqui, a história lembra, tragicamente, um verso de Cazuza: “Eu vejo o futuro repetir o passado/ Eu vejo um museu de grandes novidades”. A chacina dos 121 brasileiros da terça-feira – a maior oficialmente registrada no país, acima dos 111 massacrados do Carandiru (SP) – exuma o debate da segurança, atravessado por paixões legítimas e reações estudadas, com fins por vezes escusos. No bojo, fulmina crenças alimentadoras da brutalidade inútil e leviana, utilizada a serviço de interesses individuais.
Reduzido ao nada político após mais de quatro anos de gestão sem realizações, o governador Claudio Castro (PL) encontrou na invasão das favelas sua tábua de salvação. Ele chegou ao poder como vice de Wilson “tiro na cabecinha” Witzel, reelegeu-se em 2022 (no primeiro turno, prova de que os fluminenses são imbatíveis no esporte do exotismo eleitoral) e agora estava a caminho do desterro, mas se agarrou à aposta na truculência mais brutal.


Na entrevista pós-chacina, investiu na briga política com o governo federal (mais tarde, recuou, até pedindo desculpas à ministra Gleisi Hoffman) mas chafurdou de corpo e alma na exaltação da barbárie. “Vítimas, para mim, são apenas os quatro policiais mortos na operação”, bradou o orgulho pela longa fileira de corpos.
O inquilino do Palácio Guanabara carrega, em seu prontuário, uma vala de promessas e bravatas que desemboca no vazio das não realizações. Em outubro de 2023, jurou que “não descansaria” enquanto sua polícia não prendesse os milicianos Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho, e Danilo Dias Lima, o Tandera, além do traficante Wilton Rabello Quintanilha, o Abelha, respectivamente líderes de milícias e do Comando Vermelho. Castro deveria ter passado os últimos dois anos sem dormir, porque até hoje, nada. Zinho decidiu voluntariamente se entregar, na noite de Natal, à Polícia Federal.
Tem mais blablablá inútil. Um ano depois, em outubro de 2024, explodiu no Rio mais uma crise na segurança, estabelecendo, então, novo patamar de cruel. Em represália à uma operação na Cidade Alta, nas franjas da Avenida Brasil, o traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, mandou comparsas abrirem fogo contra veículos que passavam pela principal via expressa carioca. Três pessoas a caminho do trabalho morreram vítimas do fogo cruzado. Lá foi o governador novamente, prometer o que não consegue cumprir: garantiu que Peixão seria preso em breve etc etc. Pela primeira vez, lançou a ficha do “terrorismo” para classificar os movimentos criminosos. De qualquer jeito, Peixão segue solto, oprimindo cinco favelas da Zona Norte, que rebatizou de Complexo de Israel.
Para além da chocante quantidade de cadáveres, a polícia de Castro carregou 64 do local da chacina (aí incluídos os agentes mortos) e abandonou os outros, que tiveram de ser retirados da mata e carregados por familiares devastados. Formou-se dantesca fila de corpos na Praça São Lucas, Vila Cruzeiro, favela do Complexo da Penha. Segundo denúncias das testemunhas, muitos tinham marcas de tortura e execução – alguns estavam decapitados, outros com partes do corpo decepadas.
A identificação da imensa maioria das vítimas ainda não havia sido divulgada até a noite da quinta-feira (30), quase três dias após a operação. Muitas famílias de mortos tampouco conseguiam acesso ao corpo do parente. Havia também dificuldades em relação à necessária perícia, para se atestar o que de fato aconteceu na mata onde se deu o tiroteio. Há, pelo jeito, muito a esconder.
E um constrangimento extra: o grande alvo de toda a operação era, por óbvio, Edgar Alves de Andrade, o Doca, chefe do tráfico no vizinho Complexo da Penha e um dos generais de todo o Comando Vermelho. Acusado de mais de cem homicídios, ele não foi encontrado pelos policiais. Nem preso, nem morto; ninguém sabe, ninguém viu. Nas loas das autoridades, evitou-se, tanto quanto possível, citar o vexame, para não tisnar a parolagem triunfalista.
Jamais por coincidência, reportagem de Bruna Fantti, Aléxia Sousa e Nicola Pamplona na “Folha” atesta que, como de praxe em ocorrências do gênero, a operação vazou quatro horas antes de seu início. Após tiroteio por volta de 1h da terça (28), no qual morreram dois marginais, outros dois baleados se identificaram como chefes do CV no Espírito Santo e relataram estarem “saindo do CPX [complexo] do Alemão, por conta da informação vazada de que haveria operação policial nas comunidades”. Três policiais narraram a história na Delegacia de Homicídios.
Há outro mistério por desvendar, com potencial para desmoralizar o alegado planejamento da operação. Igor Mello, Juliana Dal Piva e Alice Maciel revelam, no ICL, que as mortes de dois dos quatro agentes ocorreram antes do cerco na mata da Vacaria, onde teria sido o confronto. O registro, na Delegacia de Homicídios da capital, informa que o PM Cleiton Serafim Gonçalves e o policial civil Marcus Vinicius de Carvalho foram baleados ainda na Vila Cruzeiro.
Registrar tais acontecimentos provoca reação furiosa do lobby das forças de segurança, que só enxerga acertos nos movimentos dos meganhas. Qualquer reparo, por mais sereno e pertinente, recebe resposta simples: “Enfrentamos os bandidos mais perigosos do mundo, em condições heroicas. E os críticos não sabem do que estão falando. Têm preconceito com a polícia e são amigos dos bandidos”.
Confrontados à constatação de que há décadas, rigorosamente todas as tentativas de enfrentamento armado dão em nada, no sentido de reduzir o poder das facções e a crueldade dos marginais contra moradores de comunidades populares, os lobistas se refugiam no fatalismo e na própria impotência. “Sim, estamos enxugando gelo”, assumem, pregando o conservadorismo do “não tem solução nem nunca terá”. Qualquer estudo mais aprofundado sobre segurança e suas várias nuances – obra de “ólogos” no debochado jargão policial – recebe o mesmo vaticínio: “Não sabem nada”
De qualquer jeito, manter tudo como está faz muito sentido eleitoral, como prova a multidão de políticos conservadores, praticantes do discurso, aboletados em casas legislativas, e governos municipais e estaduais. (Os progressistas contribuem, com sua endêmica omissão no tema. Lula, a caminho de concluir o terceiro mandato, tem nada de relevante para mostrar no setor.)
E no Complexo do Alemão? A ditadura do tráfico não vai voltar, porque nunca se foi – a prova é que, menos de 24 horas após a “megaoperação cheia de planejamento”, as repórteres Bruna Martins, d’O Globo, e Bete Lucchese, da TV Globo, documentaram dois homens armados de pistola e fuzil entre as pessoas que procuravam mais corpos.
Às famílias, restarão a dor lancinante e perpétua pelas mortes em quantidades industriais e o cotidiano privado de cidadania nas regiões abandonadas pelos gestores públicos. Até a próxima chacina – que virá.
Receba as colunas de Aydano André Motta no seu e-mail
Veja o que já enviamosApoie o #Colabora
Queremos seguir apostando em grandes reportagens, mostrando o Brasil invisível, que se esconde atrás de suas mazelas. Contamos com você para seguir investindo em um jornalismo independente e de qualidade.