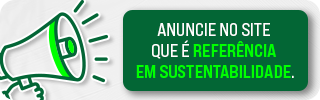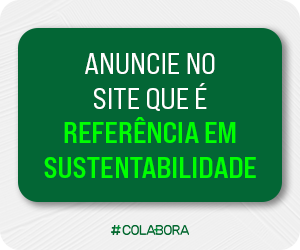ODS 1
A Lagoa dos Tupinambás

O Dia do Índio pode ser um bom pretexto para mudar o nome do maltratado cartão postal

Foi mestre Carlos Heitor Cony, morador apaixonado, que reproduziu uma definição da Lagoa, em seu livro da série Cantos do Rio, como a maior rotunda rodoviária do mundo, com 64 entradas e saídas para carros. De todas as violências cometidas contra a antiga Piraguá (água parada em tupi) ou Sacopenapã (caminho dos socós, uma ave de bico comprido), essa epidemia de veículos de hoje é a que mais me incomoda. Transformaram o entorno da lagoa em uma via expressa, quase sempre engarrafada por excesso de carros e sinais. O lugar privilegiado pela vista – que inclui o Cristo Redentor, a Pedra da Gávea e o próprio espelho d’água – é uma área de lazer elitista, onde o transporte de massa não chega e ir de ônibus significa enfrentar congestionamento: lazer na Zona Sul para a Zona Sul.
Mas, em um dia azul do outono carioca, com tempo e disposição para andar, passear pela orla da Lagoa é um ótimo programa, programa tão bom como deveria ser para os primeiros habitantes das suas margens, os tupinambás da aldeia Kariane. Os índios plantavam mandioca e tabaco, colhiam frutas, fabricavam panelas de barro, machados de pedra, cestas e cipó, caçavam – inclusive os socós – e pescavam na lagoa, pelo menos, até 1575. Os tupinambás foram aliados dos franceses contra os portugueses nas batalhas pela Baía de Guanabara: não é de espantar que muitas de suas aldeias tenham sido destruídas após a vitória das tropas de Estácio de Sá e da fundação da cidade do Rio de Janeiro, em 1565. Os livros registram que, dez anos depois, os tupinambás da Lagoa foram dizimados por uma epidemia de varíola: o governador da capitania, Antonio Salema, um precursor da guerra bacteriológica, espalhou roupas de pessoas mortas pela doença pelas matas do entorno para acabar com os índios e criar um engenho de açúcar.
Difícil imaginar tanto as roças rudimentares indígenas quanto os campos de cana ao andar à beira da lagoa do século XXI. Com a informação de que o espelho d’água era, na chegada da Família Real ao Brasil, praticamente o dobro de hoje, é mais fácil visualizar o avanço dos aterros. Após Dom João VI desapropriar o engenho para fazer uma fábrica de pólvora e o Jardim Botânico, atraindo as primeiras moradias urbanas, a orla da lagoa recomeçou a ser ocupada por gente, quase 250 anos depois dos tupinambás, E após mais de um século, começou a ser aterrada sistematicamente, quando já era então vítima da poluição. A primeira grande invasão veio com a construção dos canais da Visconde de Albuquerque e do Jardim de Alah, este o ponto de partido desta minha caminhada: toneladas e mais toneladas de terra retiradas para abertura dos canais a partir de 1920 serviram para criar aterros para a construção da Avenida Epitácio Pessoa, então presidente da República, e, depois, para o Hipódromo da Gávea (em 1926), o Clube dos Caiçaras (em 1931), a sede do Piraquê (em 1940), o Estádio de Remo da Lagoa (em 1954)…

Com o avanço dos aterros, nos mais de sete quilômetros em torno da lagoa, já teve de tudo um pouco: brincava-se num tobogã e hoje há pistas de skate e patins; criaram ali um Drive-In perto de onde hoje há um complexo de cinemas; abrigou parque de diversões e hoje multiplicam-se áreas de piquenique e lazer para crianças. E mais heliporto, cais para pedalinhos, garagens de remo, quiosques sem muito atrativos, quadras de basquete e tênis, parque para cães e até um campo de baseball. No domingo de sol, o movimento no entorno é grande, mas ainda assim há menos cariocas ali do que nos carros engarrafados ao redor, a caminho do Rebouças ou do Zuzu Angel: foram as construções dos túneis ligando à Zona Norte à Barra que transformaram a Lagoa na maior rotatória do mundo.
Também dá para imaginar neste caminho as favelas da Ilha das Dragas, aterrada na duplicação da avenida, da Praia do Pinto, que deu lugar à Selva de Pedra, e da Catacumba, onde surgiram edifícios luxuosos e o parque – todas removidas na década de 1960. A poluição das águas, praga desde o século XIX, tornou-se endêmica com a especulação imobiliária: mergulhar, como faziam os índios, tornou-se inimaginável. O calor, a sede e as pernas me levam em direção ao Bar Lagoa, já na Borges de Medeiros, onde bebe-se um dos melhores chopes da cidade e é possível beliscar petiscos alemães na varanda com vista do Cristo e do espelho d’água. Sob o sol de 2018, encontram-se até cariocas repetindo outros hábitos tupinambás de cinco séculos atrás como atravessar a lagoa a remo – antes com canoas, hoje com barcos esportivos – e pescar nas suas margens – antes com lança ou arco e flecha, hoje com varas de pescar.
A estátua do Curumim – instalada numa pedra no espelho d’água, perto da garagem de remo do Vasco – é a única homenagem aos primeiros moradores que sequer conseguiram deixar de herança um nome indígena para o lugar. Se Ipanema, bairro batizado com nome tupi, e Copacabana – nome quechua, tribo andina – vêm sendo cantadas em versos há gerações, a Lagoa Rodrigo de Freitas traz muito menos inspiração aos poetas, por conta, certamente, deste infeliz nome de batismo, homenageando um militar português que herdou as terras da mulher e nada fez de significativo nos seus 15 anos no Rio (1702/1717). Como estamos perto do Dia do Índio, fica a ideia para os nossos representantes no Legislativo e no Executivo: rebatizar a Lagoa – o acidente geográfico, não o bairro – de Piraguá ou Sacopenapã para homenagear os tupinambás, que cuidaram do lugar bem melhor do que fez Rodrigo de Freitas ou qualquer outro homem branco nos séculos seguintes.

Oscar Valporto
Oscar Valporto é carioca e jornalista – carioca de mar e bar, de samba e futebol; jornalista, desde 1981, no Jornal do Brasil, O Globo, O Dia, no Governo do Rio, no Viva Rio, no Comitê Olímpico Brasileiro. Voltou ao Rio, em 2016, após oito anos no Correio* (Salvador, Bahia), onde foi editor executivo e editor-chefe. Contribui com o #Colabora desde sua fundação e, desde 2019, é um dos editores do site onde também pública as crônicas #RioéRua, sobre suas andanças pela cidade