ODS 1
#RioéRua: memória e história maltratadas na Pequena África

Cidade não valoriza nem o Cais do Valongo, considerado Patrimônio da Humanidade pela Unesco

Novembro chega e, com ele, um convite para a solenidade de tombamento pelo Inepac (Instittuto Estadual do Patrimônio Cultural) do Cais do Valongo – sítio arqueológico descoberto na Gamboa durante as obras no porto para os Jogos Olímpicos 2016. Pelo Cais do Valongo, em apenas 20 anos, passaram pelo menos 500 mil escravos, parte significativa dos quase dois milhões que chegaram ao Rio de Janeiro durante três séculos para trabalhar nas minas e nas lavouras. O tombamento estadual parece mais uma formalidade para o sítio arqueológico, onde foram encontradas 500 mil peças que ajudam a contar a história do tráfico de escravos – desde 2017, o Cais do Valongo é considerado Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco.
[g1_quote author_description_format=”%link%” align=”left” size=”s” style=”solid” template=”01″]De meados do Século XVI ao Século XIX, mais de 12 milhões de africanos foram transportados para o continente americano: pelo menos 1,8 milhão de escravos teriam morrido na travessia do Atlântico. O Rio de Janeiro recebeu quase dois milhões de escravos, principalmente a partir de 1763, quando a cidade se tornou capital da colônia e a mão de obra escrava passou a ser usada na exploração do ouro de Minas Gerais
[/g1_quote]Mas quem passa por aquele trecho da Pequena África – como a região entre a Praça Mauá e São Cristóvão, passando pelos bairros da Saúde, Gamboa e Santo Cristo ficou conhecida a partir do começo do século passado – só vai reparar na área histórica se prestar bastante atenção. São só três placas informando o que está ali naquele cercado – nenhuma delas sequer cita o reconhecimento como Patrimônio da Humanidade. Após descoberta do sítio, em 2011, sucederam-se novas promessas de valorização da herança africana na região, que tem outros marcos como o Jardim Suspenso do Valongo, o Largo do Depósito, a Pedra do Sal, o Largo do São Francisco da Prainha, o Centro Cultural José Bonifácio e o Cemitério dos Pretos Novos. As iniciativas ficaram, basicamente, na promessa – na primeira semana do mês da Consciência Negra, caminhar por aqui ajuda a reforçar a história e memória já que resistir é herança africana.

O tráfico de escravos a partir da África foi um dos maiores deslocamentos populacionais da história da humanidade e o Brasil foi o destino – de acordo com os mais recentes estudos – de quase seis milhões de pessoas, 60% dos negros africanos que chegaram às Américas. De meados do Século XVI ao Século XIX, mais de 12 milhões de africanos foram transportados para o continente americano: pelo menos 1,8 milhão de escravos teriam morrido na travessia do Atlântico. O Rio de Janeiro recebeu quase dois milhões de escravos, principalmente a partir de 1763, quando a cidade se tornou capital da colônia e a mão de obra escrava passou a ser usada na exploração do ouro de Minas Gerais.
Foi nesta época que o governo colonial começou a transferir o desembarque dos escravos do cais do Largo do Carmo – hoje Praça XV, onde havia sido construída a Casa dos Governadores, hoje Paço Imperial – para uma área improvisada onde seria construído, em 1811, o Cais do Valongo. Durante 20 anos, mais de 700 mil escravos desembarcaram por ali e, nessa região, entre Saúde, Santo Cristo e Gamboa. Muitos permaneciam até os traficantes acharem compradores para sua mercadoria; na rua do Valongo, hoje rua Camerino, ficavam armazéns de engorda e venda de escravos. Muitos morreram por ali – os navios negreiros chegavam com cadáveres e moribundos. A travessia era tão dura que, a partir do fim do século XVIII, os traficantes de escravos passaram a priorizar jovens e crianças, mais resistentes.

Essa história trágica e violenta deixa ainda poucas pegadas a serem seguidas na Pequena África: o Cais do Valongo, Patrimônio da Humanidade, está mal sinalizado e mal preservado. O prédio vizinho da antiga Docas Pedro II, do século XIX, que deveria servir de apoio ao sítio arqueológico, continua ocupado pela Ação da Cidadania – há uma disputa pelo espaço. Logo adiante, ainda mais mal tratado está o Jardim Suspenso do Valongo, uma construção paisagística, criada na encosta do Morro da Conceição para abrigar as estátuas do Cais da Imperatriz – que substituiu o Valongo quando o tráfico de escravos foi proibido em 1831 e o pequeno porto foi reformado alguns anos depois para receber a futura imperatriz Teresa Cristina, mulher de Dom Pedro II. O jardim, criado na reforma urbana do prefeito Pereira Passos do começo do século XX que aterrou o cais, foi restaurado com as obras do Porto Maravilha, mas anda à mercê de pichadores e vândalos.
Na subida para o jardim, está a Casa de Tia Ciata, micro centro de memória da baiana, mãe de santo e do samba carioca – que não morava neste endereço, mas perto da Praça 11. No Jardim Suspenso do Valongo, é possível ver a Praça dos Estivadores, onde uma placa, sem conservação, lembra que ali ficava o Largo do Depósito, principal mercado de escravos no começo do século XIX – outro mercado importante ficava no Largo de São Francisco da Prainha. A placa desbotada lembra que o largo faz parte do ‘Circuito Histórico e Arqueológico da Herança Africana’, criado por decreto municipal de novembro de 2011 com objetivo de valorizar memória e história na Pequena África.
Nesta caminhada, sete anos depois, não há sinais visíveis de qualquer valorização da memória africana. O Instituto dos Pretos Novos – outro sítio arqueológico, onde foram encontrados, a partir de 1994, restos mortais de centenas de escravos que morreram na travessia do Atlântico – continua sofrendo para manter seu acervo aberto ao público. Metros adiante, na mesma rua Pedro Ernesto, na Gamboa, placas anunciam o Museu da Escravidão e da Liberdade, no antigo prédio (de 1877) onde funcionava o Instituto Cultural José Bonifácio, a primeira escola pública da América Latina. É fake news da prefeitura, ou, para ser condescendente, uma declaração de boas intenções. Não existe o museu sonhado por todos que desejam preservar a memória da escravidão; há o nome, as placas e planos. Na Pequena África, até agora, a prefeitura foi mais ameaça do que incentivo: chegou a proibir a tradicional roda de samba da Pedra do Sal – onde nasceram os ranchos carnavalescos e o próprio samba – e vetou um projeto que transformava o quilombo do lugar em bem imaterial. Mas isso não impede que, a cada segunda-feira, a Pedra do Sal fique tomada de gente que gosta de samba e história, registra nos muros as imagens de Zumbi e Marielle e fala de amor, memória e resistência. #RioéRua
Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.
Veja o que já enviamos
Últimas do #Colabora
Oscar Valporto
Oscar Valporto é carioca e jornalista – carioca de mar e bar, de samba e futebol; jornalista, desde 1981, no Jornal do Brasil, O Globo, O Dia, no Governo do Rio, no Viva Rio, no Comitê Olímpico Brasileiro. Voltou ao Rio, em 2016, após oito anos no Correio* (Salvador, Bahia), onde foi editor executivo e editor-chefe. Contribui com o #Colabora desde sua fundação e, desde 2019, é um dos editores do site onde também pública as crônicas #RioéRua, sobre suas andanças pela cidade
































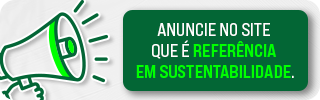

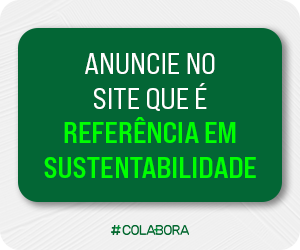







Pingback: Praça XV e a história negra do Rio de Janeiro – EXPORVISÕES