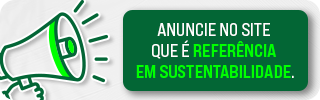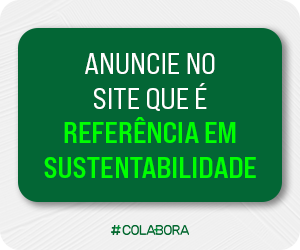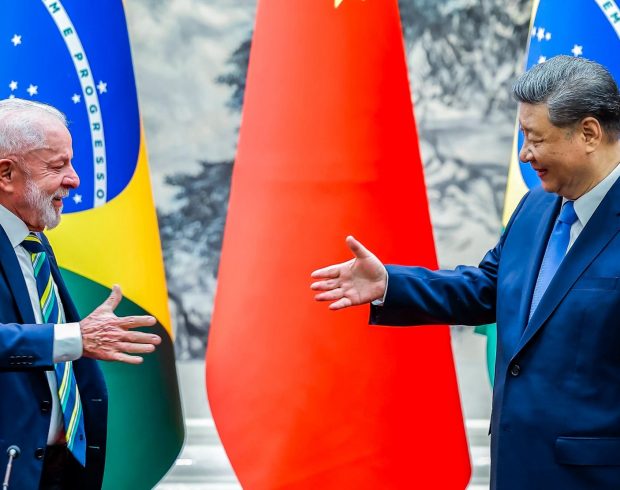ODS 1
Arquipélago brasileiro à deriva pede socorro

Cerca de treze mil moradores nas ilhas do Bailique, no Amapá, estão sem luz. A água do rio, que consomem, foi invadida pelo mar e está salgada

“Estamos vivendo o caos no Bailique. Não temos luz e nossa água está toda salgada. Quem não tem condições de comprar água de garrafão, que custa R$ 10,00, bebe dessa água salgada mesmo. Misericórdia! Tem gente adoecendo por causa da água salgada, as crianças estão ficando com a pele cheia de feridas porque as mães não têm como arranjar água doce para elas, nem para tomarem banho. Governador, prefeito, nos ajudem por favor. Nossa situação está crítica!”
O depoimento dramático é de Maria Luiza Cordeiro Ferreira, moradora de Vila Macedônia, uma das 53 comunidades que compõem o Arquipélago do Bailique, formado por oito ilhas, que fica a 180 quilômetros da capital do Amapá. Doze horas de barco separam o arquipélago, onde moram cerca de treze mil pessoas (o último censo do IBGE, de 2010, contabilizou 7.618 habitantes, a maioria vivendo longe dos centros), de Macapá. Estive lá em 2013 e em 2015, durante o processo de produção do Protocolo Comunitário. Foi a primeira comunidade a cumprir a exigência da Organização Internacional do Trabalho, que no seu artigo 169 prevê “uma ação coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito pela sua integridade”.
Hoje, no entanto, o Bailique tornou-se um exemplo vivo dos debates acirrados sobre desenvolvimento, preservação e bem estar social. Apesar de serem banhados pelo outrora caudaloso e potente rio Araguari, que teve seu leito modificado por conta da construção de três hidrelétricas nos últimos cinquenta anos, os bailiquenses sofrem há tempos com falta de energia. Para culminar, e ainda por conta de tanta reviravolta no leito do rio Araguari, ele não tem mais força para segurar o mar. E suas águas, que sempre foram usadas pelos moradores para seu consumo, ficaram salgadas. Daí a queixa de Maria Luiza.

Com o apagão dos últimos dias, que deixou 13 dos 16 municípios do estado do Amapá sem eletricidade, a crise só se acirrou. Assim que recebi a mensagem com o apelo da moradora, busquei contato com José Cordeiro, um dos líderes comunitários do Bailique, também agente de saúde e produtor de açaí. Não foi fácil marcarmos a conversa. Cordeiro mora na comunidade do Arraiol, no Bailique. A recorrente falta de energia dificulta o contato por telefone, deixa a internet vacilante. Isso contribui para afastar a região, ainda mais, dos grandes centros. E dos olhares de quem poderia tentar ajudá-los.
“A cada dia nossa situação vem piorando. Em 2015 fomos conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN), e muita gente acreditou que iríamos, enfim, ficar livres das constantes quedas de energia. Mas piorou. A empresa que veio fazer o serviço de fiação fez um trabalho inadequado para a realidade da região. Aqui a erosão é muito forte, tem queda de terra bem intensa em certos lugares. E eles construíram a fiação muito próximo à beira do rio. Não demorou muito, começou a derrubar tudo. Isso já foi interrompendo a nossa energia, porque cada poste que cai é preciso esperar dois, três dias, para ajeitar. O pior é que, mesmo assim, todo mês chega a conta: R$ 200, R$ 300. Entramos na Justiça – há uma ação civil pública correndo junto à Justiça Federal – o advogado pediu que não se pague nenhuma conta até que seja julgado o processo. Mas muita gente tem medo, porque fica com o nome sujo na praça. É uma decisão difícil.”, contou José Cordeiro.
Próspero e abundante em bens naturais, o Arquipélago do Bailique é uma região rural, seus moradores vivem basicamente da pesca e da extração do açaí. O território é pobre, as casas são construídas sobre palafitas, caminha-se o tempo todo em ripas de madeira, como pontes. Nos igarapés ainda é possível pescar, embora haja muito menos peixe do que antes, dizem os pescadores, responsabilizando aí as mudanças climáticas também. Grandes barcos vindos da capital levam alimentos processados semanalmente, o que abastece os pequenos mercados. As mercadorias, no entanto, são vendidas a preços bem superiores por conta de toda a logística necessária para chegarem até lá.
Segundo um estudo realizado em 2013 por pesquisadores das universidades do Amapá, 41,5% dos bailiquenses utilizam a rede de distribuição da Companhia de Eletricidade do Amapá (CEA) e 56,4% utilizam outras fontes – motores a diesel para geração de energia. Cinco por cento, à época da pesquisa, não tinham nenhum acesso à energia elétrica. Resistem como é possível, numa rotina difícil: o século XIX revivido.
Quando o mobilizador social Rubens Gomes, que foi presidente do Grupo de Trabalhos Amazônicos (GTA) e fundador da Oela (Oficina Escola de Lutheria da Amazônia) organizou as comunidades para o Protocolo Comunitário, fez várias parcerias com o governo federal. Estávamos sob o comando dos governos sociais do ex-presidente Lula e da ex-presidenta Dilma Roussef. Mas Rubão, como era conhecido, faleceu este ano. As parcerias se foram, o governo mudou de comando.
“O Rubens, quando queria conversar, ele trazia aqui os órgãos federais, forçava o estado a se incluir na conversa. Com a morte dele, ficamos muito desnorteados. Infelizmente, nosso Estado é coordenado por uma bancada empresarial em nome do agronegócio, pessoas que não estão nem aí para quem morre ou adoece. Não há nem diálogo com alguma organização social, eles barram. Temos o Greenpeace, mas os órgãos públicos dizem que essas organizações estão contra o desenvolvimento do estado. Estamos tentando dialogar, mas ninguém nos ouve, nem a imprensa. Por causa da falta de eletricidade, o povo que sobrevive da pesca e do extrativismo fica impossibilitado de viver. Não tem gelo, não tem energia nem ao menos para manter um freezer. Não tem como conservar o peixe, porque salgá-lo não tem sido uma opção, já que hoje em dia as pessoas têm consciência de que o sal causa problemas à saúde”, disse José Cordeiro.
[g1_quote author_name=”José Cordeiro” author_description=”Líder comunitário” author_description_format=”%link%” align=”left” size=”s” style=”simple” template=”01″]Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.
Veja o que já enviamosA cada dia nossa situação vem piorando. Em 2015 fomos conectados ao Sistema Interligado Nacional (SIN), e muita gente acreditou que iríamos, enfim, ficar livres das constantes quedas de energia. Mas piorou. Mesmo assim, todo mês chega a conta: R$ 200, R$ 300
[/g1_quote]A questão da água salgada é tão séria quanto a da falta de luz. Até 2017, dez por cento da população sofriam com isso. Hoje, todos os moradores são vítimas. Quem pode, compra água mineral, mas é a minoria da população. Quem não pode, navega em suas pequenas canoas até o topo do arquipélago, buscando uma água do rio que não esteja salobra.
“Por mais que o governo não assuma isso, a causa principal (de a água ficar salgada) foram as hidrelétricas que foram construídas no alto Araguari – Usina Hidrelétrica Coaracy Nunes, em 1976, Ferreira Gomes foi feita, em 2014, Cachoeira Caldeirão, em 2017. Qualquer pesquisador que se dispuser a fazer uma pesquisa séria aqui, vai ver isso. Elas foram tirando a força do rio, e ele foi deixando a água salgada entrar. Os moradores que plantam, que têm sua pequena horta para consumo, também já estão sentindo dificuldade, porque se molhar a plantação com água salgada, ela estraga”, disse José Cordeiro.
A outra causa do problema, segundo os moradores, está nas patas dos búfalos, criados sem nenhum manejo adequado e por um número cada vez maior de fazendeiros. Animais que pesam, em média, meia tonelada, suas pegadas numa região cercada por floresta de várzea vão abrindo outros “leitos” de rios por onde caminham. Isso também contribui para o enfraquecimento das águas do Araguari, segundo rio mais potente da região, além do Amazonas.
“Estamos com essa água salgada totalmente há algumas semanas. Daqui a poucos meses nós não sabemos o que vai acontecer. Qualquer órgão público que trabalha com a pesca sabe que peixe de água doce não é o mesmo que peixe de água salgada. Por enquanto está chovendo bastante, mas quando parar a chuva, em junho, julho, não vamos ter as mesmas espécies nativas daqui. Tudo vai mudar, os pescadores vão ter que se habituar a pescar outros peixes, vão ter que se capacitar para isso”, disse Cordeiro.
Pensar nesse futuro já é, hoje, menos urgente, pelo que se pode perceber no depoimento da moradora. Em seu apelo, ela repete o mantra que se ouve nos lugares em que os políticos são vistos como oportunistas à cata de votos – “Autoridades, lembrem-se de nós não só na hora do voto!”.
O FENÔMENO DA POROROCA
O Rio Araguari tem mais de 600 quilômetros de comprimento e banha todo o estado do Amapá. Até cerca de sete anos atrás ele tinha tanta força que provocava um estrondo, uma pororoca, quando suas águas se encontravam com as águas do Oceano Atlântico. O fenômeno era conhecido até internacionalmente, e atraía surfistas do mundo todo. Com eles, divisas. Mas mexeram tanto em seu leito, que o Araguari ficou fraco, a pororoca se acabou.
“O poder público poderia estar ganhando dinheiro, falamos isso com muita segurança. A perda do Rio Araguari proporcionava o único turismo que tinha aqui na região, que atraía pessoas. O surf da pororoca trazia gente do mundo todo, mídia internacional, e acontecia aqui dentro do Bailique. Chamava atenção, o estado arrecadava em cima disso. Mas não parece que o poder público esteja, realmente, se importando com isso. É esse o exemplo que se dá quando se tenta falar sobre o valor que tem uma área de vegetação natural em pé. Transformar a floresta numa pastagem é dar o lucro para apenas uns poucos, perde-se totalmente o poder de produção daquela área, gasta-se um dinheiro imenso. Já a floresta em pé mantém a beleza, o turismo, alimentação saudável na mesa da população. A nossa única riqueza que era a pororoca, foi destruída pelo desenvolvimento a qualquer custo, nas patas dos búfalos e nas hidrelétricas. Agora, só nos livros de história”, desabafa José Cordeiro.
Últimas do #Colabora
Relacionadas
Amelia Gonzalez
Jornalista, durante nove anos editou o caderno Razão Social, encartado no jornal O Globo, que atualizava temas ligados ao desenvolvimento sustentável. Entre 2013 e 2020 foi colunista do G1, sobre o mesmo tema. Atualmente mantém o Blog Ser Sustentável, onde as questões relacionadas ao meio ambiente, ao social e à governança são tratadas sempre com ajuda de autores especialistas.