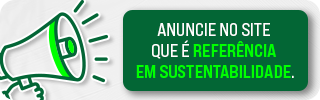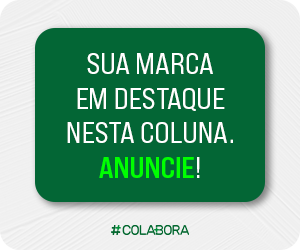ODS 1
Receba as colunas de Júlia Pessôa no seu e-mail
Veja o que já enviamosUm imoral lembrete olímpico: o sucesso das mulheres nunca será impune
A custos pessoais e emocionais altíssimos, elas vêm derrubando clichês, discriminações e obstáculos em Paris 2024
Não há o que questionar. Essa versão dos Jogos Olímpicos é das mulheres. Eu obviamente sou suspeita para dizer, mas venho tendo essa impressão há alguns anos: são elas que têm sido as grandes estrelas. É claro que meu ouvido é tendencioso, e por aí ainda se diz “correr como o Bolt”, “nadar como o Phelps”, “jogar bola como um Neymar”. Mas basta ter o olhar um pouco mais atento para perceber que cada vez mais são as Rebecas, Simones, Beatrizes, Rayssas, Martas, Imanes, Flavias, Valdileias, e tantas outras quem realmente carrega nas costas o espírito olímpico. Vitórias que começam muito tempo antes de vestirem seus uniformes, e precisam ser defendidas muito depois. O sucesso de uma mulher nunca sairá impune.


Das dez medalhas que o Brasil possui aqui enquanto escrevo estas palavras, nada menos que 7 foram conquistadas por mulheres. O primeiro ouro brasileiro veio pela judoca Beatriz Souza, uma mulher negra que pesa 135 kg. Ao longo da vida, certamente seu corpo foi questionado, “porque judô não é esporte de gente preta”, “porque isso não é corpo de atleta”, entre tantas outras atrocidades que matam potenciais medalhistas olímpicas dia a dia. Não bastasse isso, Bia abocanhou a medalha dourada vencendo as atuais primeira e segunda melhores do mundo, e o ouro veio em cima de uma atleta de Israel, ainda mais simbólica diante do massacre o país vem impondo sobre a Palestina. Difícil ter mais representatividade que isso.
Leu essa? Mulheres, brasileiras e olímpicas: 32 anos de histórias até Paris 2024
Enquanto digitava essas palavras, veio o segundo ouro do Brasil, de Rebeca Andrade, na final do solo de ginástica artística. O Brasil vencedor em Paris é uma mulher negra, o que isso nos diz sobre o país? Não faltaram comentários, nos casos de Bia e Rebeca, dizendo que as atletas ganharam “por mérito”, “independentemente da cor”. Num Brasil que extermina a juventude negra diariamente, é muita falta de caráter excluir a raça de qualquer equação. O auge de racismo apaga a negritude das vitórias, mas não hesita em apontá-la na pobreza, na criminalidade e em outras questões, um inconfundível legado escravocrata que vem em dedos apontados.


Mulheres de origem pobre não ganham – ao contrário de homens que um dia foram “meninos da várzea” do futebol – o status de superestrelas milionárias. Nascida e, sobretudo, crescida e formada em um assentamento do MST, a atleta Valdileia Martins foi finalista do salto em altura nas Olimpíadas de Paris, mas teve que abandonar a última etapa da competição por conta de a uma lesão. A atleta é filha de assentados na comunidade Pontal do Tigre, na região noroeste do Paraná. Foi nesse contexto que deu seus primeiros saltos. A vara de pescar e os sacos de milho com palha de arroz foram seus primeiros equipamentos caseiros, inventados pela criatividade de seu pai, Seu Israel, falecido quando Valdileia já estava em Paris. Um dos comentários num post sobre sua classificação (de um homem, registre-se), dizia: “Invadiu terra alheia para treinar”.
Receba as colunas de Júlia Pessôa no seu e-mail
Veja o que já enviamosNum mundo em que não se contenta em querer massacrar nossos sucessos, mas também deseja que estejamos umas contra as outras, ver a admiração e a torcida recíproca de Rebeca Andrade e Simone Biles desenha, para não deixar dúvidas, de que o caminho para vencermos – as medalhas e as opressões que nos são impostas – é aquele em que seguimos unidas. Os passos à frente são sempre maiores – e a força de resistência contra as rasteiras também. E mostra, ainda, que devemos continuar nossa passada enquanto desejarmos. (Porque romantizar o sacrifício é coisa de coach de internet).


Golpes duros e baixos não faltam, claro. Ter alcançado o dito “sonho olímpico” não significa conseguir o tão desejado “chegar lá”. Porque, infelizmente, vão tentar tirar até isso de atletas brilhantes e que foram submetidas a incontáveis provas para estarem onde estão: em Paris, representando seus países e o que há de excelência neles em suas modalidades.
Mas muito mais que o esmero com seu desempenho, atletas mulheres precisam mostrar o máximo de rendimento para poderem ser quem são e serem atletas. A brasileira Flávia Maria de Lima, entre treinos e provas dos 800m, está no meio de uma batalha judicial pela guarda de sua filha, um conflito orquestrado por seu ex-marido, que utiliza os Jogos Olímpicos e viagens para competições como uma arma para desestabilizá-la como mãe, mulher e atleta, e chantageá-la.


A boxeadora argelina, Imane Khelif, vem sofrendo todo o tipo de misoginia, racismo e ataques, sendo boicotada até mesmo por adversárias que se recusam a cumprimentá-la. Isso por causa da ignorância difundida de que ela “seria um homem” e teria vantagens competitivas sobre as adversárias, o que além de ser mentira, é extremamente preconceituoso. Mas até para provar sua identidade, mulheres, no esporte e na vida, são alvo de desconfiança, como se estivessem o tempo todo procurando alguma maneira de “dar um golpe”, levar vantagem. E, neste caso específico de Imane, diz algo muito emblemático sobre como somos percebidas. “Para ser tão boa assim, só pode ser homem”. É o mesmo pensamento que permeia descréditos de ascensão profissional, afirmando que uma colega promovida “só pode estar dando pro chefe”, fez o “teste do sofá” ou qualquer variante que tire nossos méritos e volte os holofotes aos homens. Imane segue na disputa pelo pódio, devidamente certificada como mulher pelo Comitê Olímpico Internacional – para os idiotas que queiram questionar.
Enquanto isso, homens esportistas abandonam seus filhos, filhas e esposas; cometem estupros, feminicídios e outras modalidades de violência de gênero, e seguem impunes, como heróis nacionais. No Brasil temos inúmeros casos assim, de estrelas do futebol a jogadorezinhos de divisões menores (o desprezo é com o homem, não a divisão, registre-se), que devem acreditar que a chuteira lhe dá alguma espécie de passe livre para a misoginia. Nos jogos Olímpicos deste ano, temos o enojante caso de Steven Van de Velde, jogador holandês de vôlei de praia condenado pelo estupro de uma menina de 12 anos. Ele cumpriu parte da pena no Reino Unido e depois foi transferido para a Holanda, onde acabou sendo libertado, e voltou ao vôlei de praia em 2017. Uma amarga metáfora de como o mundo funciona.
Mas, para ficar no jargão esportivo, “o jogo só termina quando acaba”. A dupla brasileira Evandro/Arthur ganhou com tranquilidade do holandês estuprador e sua dupla na quadra de vôlei, e o gringo foi extremamente vaiado nas areias. A custos pessoais, de saúde e emocionais altíssimos, as mulheres também vem derrubando clichês, discriminações e obstáculos, nas quadras, tatames, ringues, campos, e qualquer espaço esportivo.
Pode ser utopia minha, ou então um acometimento por um otimismo olímpico. Não importa muito o resultado da competição, que sempre fica com o quadro de medalhas chinês ou estadunidense carregado. Mais vale é que demorou, e ainda acontece muito vagarosamente, mas chegamos.. Umas (muito) mais que as outras; chegamos quebradas, exaustas e feridas, ao pódio. E podem fazer o barulho que for – não sairemos mais daqui, ou estaremos sozinhas. E para o terror de quem quer o contrário: se formos derrubadas daqui, nos reerguermos com a ajuda umas das outras.
Apoie o #Colabora
Queremos seguir apostando em grandes reportagens, mostrando o Brasil invisível, que se esconde atrás de suas mazelas. Contamos com você para seguir investindo em um jornalismo independente e de qualidade.