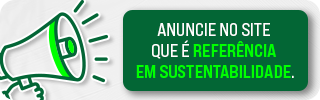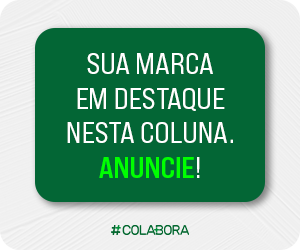ODS 1
Receba as colunas de Andréia C. Louback no seu e-mail
Veja o que já enviamosA consciência negra como movimento entre gerações
As tranças como caminho para crianças e adolescentes se conectarem às raízes de suas identidades, dos seus corpos, das suas vozes e das suas histórias
Eu já escrevi aqui outras vezes que tenho um sobrinho chamado Kauã Vinícius, de 15 anos. Ele é um menino negro de pele clara, filho de mãe carioca com pai paraense – ambos negros. Dezoito anos nos separam entre idade e vivências, sobretudo as nossas experiências com o racismo. Desde de que ele era muito novo, vez ou outra eu testava iniciar algumas conversas despretensiosas para entender como ele experiencia o mundo e as relações de raça, classe e primeira infância.
Sendo a escola um lugar indubitavelmente cruel no que tange ao racismo, os relatos que ele trazia estavam longe do campo da coincidência. O cabelo, o corpo, a cor. A coragem entre o expressar-se em sala de aula ou optar pelo silenciamento (que foi a minha escolha por décadas). Um estudo recente realizado pelo Instituto de Referência Negra Peregum, em parceria com o Projeto SETA, mostrou que 64% dos jovens consideram o ambiente escolar como o local em que mais sofrem racismo. Felizmente, a geração do Kauã é ainda mais corajosa do que a minha e do que a dos nossos pais, avós e ancestrais. E que bom!
Eu tinha 25 anos quando, pela primeira vez, tive coragem de colocar tranças africanas no meu cabelo. Antes disso, eu nunca tinha me conectado com o significado que elas carregavam, tampouco com o poder que havia no estilo e no desenho do penteado. Havia um certo estigma de “sujeira, fedor e informalidade” com quem as usava e, consciente ou inconscientemente, eu não queria confrontar o estereótipo.


Acontece que, para mim e tantas mulheres negras, a trança tem um significado muito além da estética. Ela remete à resistência das nossas ancestrais, que usavam o desenho das tranças no couro cabelo para traçar rotas de fuga em tempos de escravização. Também era esconderijo de sementes e grãos, uma vez que poderiam ser plantados quando finalmente conseguissem fugir.
A primeira vez que encorajei o meu sobrinho a colocar tranças, eu não tinha grandes expectativas. O Kauã já estava arriscando usar o cabelo mais natural, diferente dos anos anteriores em que ele passava a máquina e ficava quase careca. Querendo ou não, era o caminho mais prático para lidar com os comentários e piadinhas na escola.
Receba as colunas de Andréia C. Louback no seu e-mail
Veja o que já enviamosQuando senti que ele estava pronto, fomos num salão africano na minha cidade, em São Gonçalo, e passamos a tarde juntos. Eu optei por trançar minhas tradicionais box braids (mais soltinhas) e ele testou o estilo nagô (totalmente rente ao couro cabeludo). O resultado foi emocionante! Ele amou o que viu no espelho. Ele se amou. Amou sua nova possibilidade estética e conhecer uma nova face da sua negritude. Eu nunca vou esquecer aquela cena!
O texto intitulado “Alisando o nosso cabelo”, da autora bell hooks (*), é um dos seus clássicos ensaios da temática racial. Em uma linguagem acessível e informal, hooks revisita a infância nos Estados Unidos para ordenar os episódios que tangenciam a relação pessoal com seu próprio cabelo, a partir da sua cultura e tradição familiar. Embora tenha sido publicado há mais de 18 anos, o registro trata de uma crítica contemporânea sobre o conflito das mulheres negras com os padrões estabelecidos pela supremacia branca.
A proposta inicial do texto é relembrar o alisamento como “um ritual de intimidade”. hooks conta que sua mãe tinha seis filhas, logo, não havia condições de pagar uma cabeleireira nos tradicionais salões de beleza. No entanto, a prática de alisar o cabelo em seu relato não estava associada a uma imposição. O ato tinha um significado de transição da condição de menina para mulher. Ou seja: a autora e suas irmãs esperavam ansiosamente por esse momento. Era como um verdadeiro rito de passagem que, em nada, se assemelhava com o referencial de beleza ditado pelo inconsciente coletivo. Ela diz: “Para cada um de nós, passar o pente quente é um ritual importante. Não é um símbolo de nosso anseio em tornar-nos brancas. Não existem brancos em nosso mundo íntimo, é um símbolo de nosso desejo de sermos mulheres.” (Hooks, 2005, p.2)
Na última semana, meu sobrinho trançou o cabelo novamente. Desta vez, escolheu as box braids. Como agora moramos em estados diferentes, não vi ao vivo, mas amei a foto que ele me mandou imediatamente após finalizar o processo. E para a minha surpresa, alguns dias depois, o Kauã Vinícius trouxe problemáticas raciais sobre o fato de ser um menino negro — e, agora, com tranças.
“Acho que, depois das tranças, levei um choque muito grande. Muito grande mesmo. Foi um choque de me sentir realmente como uma pessoa negra, de tons mais escuros, se sentiria. Eu acho que quando você coloca a trança, você acentua suas origens. Eu sou mais claro, né? Então, era menor comigo. Ouvi comentários de parentes dos meus amigos. Fui seguido em mercados. Pediram para ver minha bolsa numa loja. Não lembro qual era…”
Quando Kauã me enviou a mensagem, fiquei com vontade de enchê-lo de perguntas. Mas nada como deixar a conversa fluir com as reflexões que ele estava me trazendo e maturando ainda. O fato é: as ofensas raciais em relação ao cabelo e à negritude tem o marco inicial na infância. Em outras palavras, na recapitulação de quando era criança, fiz uma inevitável comparação entre os nossos tempos de percepção do colorismo, racismo e todos os traumas que tiveram nosso cabelo crespo e natural como ponto de partida.
Quando comecei a estudar sobre o conceito de colorismo, já estava no mestrado estudando Relações Étnico-raciais, em 2016. Embora o Kauã não tenha usado essa palavra, ele se referiu à gradação de cores no que tange à pigmentação da pele, e concluiu que — sim — há um tipo de discriminação relacionada à escala da tonalidade que um corpo possui. Embora já tenhamos estudos acadêmicos sobre esta categoria, podemos compreendê-la, em síntese, que quanto mais pigmentada uma pessoa é, mais exclusão sofrerá e menos privilégios simbólicos (de acesso, de estereótipos e de representações) ela terá.
No Dia Nacional da Consciência Negra, eu não desejo nada menos que crianças e adolescentes totalmente conectados às raízes de suas identidades, dos seus corpos, das suas vozes e das suas histórias. Desejo que, desde a primeira infância, crianças negras sintam-se minimamente prontas para confrontar o padrão estabelecido e com ousadia para rejeitarem o que lhes é esperado em termos de estética, estilo e cabelo. Eu demorei 25 anos. O Kauã demorou 15. E, certamente, já temos exemplos de crianças ainda mais novas que, na contramão do auto ódio, amam o que veem no espelho.
Fecho a minha coluna com uma citação de uma das nossas grandes referências brasileiras, hoje ancestral e maior maior heroína do meu processo de consciência racial. Em 1983, Neusa Santos Sousa sabiamente nos disse:
“Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a exigências, compelida a expectativas alienadas. Mas é também, e sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar sua história e recriar-se em suas potencialidades”.
(*) Se você se perguntou o porquê da grafia do nome da bell hooks ter aparecido em caixa baixa, aqui vai uma breve explicação: ela sempre dizia que a força do que ela escrevia era mais importante que o seu nome. O ato de manter seu nome em letras minúsculas era político e intencional para exaltar a consistência de suas reflexões teóricas — e não quem ela era.
REFERÊNCIAS
GOMES, Sem perder a raiz: corpo e cabelo como símbolos da identidade negra. Belo Horizonte: Autêntica, 2006.
hooks, bell. Alisando o nosso cabelo. Tradução do espanhol: Lia Maria dos Santos. Revista Gazeta de Cuba – Union de escritores y Artista de Cuba, janeiro-fevereiro, 2005.
Louback, Andréia Coutinho da Silva. Jornalistas negras no Rio de Janeiro : trajetórias de vida e narrativas de resistência diante do racismo / Andréia Coutinho da Silva Louback, 2018.
SOUSA, Neusa Santos. Tornar-se negro: as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1983.
Apoie o #Colabora.
Queremos seguir apostando em grandes reportagens, mostrando o Brasil invisível, que se esconde atrás de suas mazelas. Contamos com você para seguir investindo em um jornalismo independente e de qualidade.