ODS 1
‘A Justiça brasileira não escapa do racismo estrutural’


"O maior desafio é a superação da cultura de desigualdade, extermínio, eurocêntrica, na qual o Brasil está inserido desde 1500. Para romper é muito difícil", atesta André Nicolitt, o juiz que libertou o violoncelista Luiz Carlos Justino, de Niterói


O plantão judiciário do sábado aproximava-se do fim, no Fórum de São Gonçalo, quando o juiz André Luiz Nicolitt pôs os olhos no pedido de soltura do músico Luiz Carlos Justino, de 23 anos, morador da Favela da Grota, em Niterói, e preso na Praça Arariboia, Centro da cidade, sem motivo aparente. Diante da informação de que uma foto do rapaz – negro – estava num livro de suspeitos, o magistrado fez constar na sua decisão pergunta que decifra o Brasil: “Por que um jovem negro, violoncelista, que nunca teve passagem pela polícia, inspiraria desconfiança para constar em um álbum? Não há previsão legal acerca da sua existência”. Nicolitt mandou soltar Justino, que saiu após a humilhação de quatro dias na cadeia. Na injustiça cotidiana da terra do racismo, o músico deu sorte.
O juiz, de 47 anos, é negro e estuda a questão do reconhecimento, tanto presencial como por fotografias, conhecendo profundamente as falhas do sistema. Autor de sete livros – entre eles o Manual de processo penal, tijolo com mais de mil páginas que passou da 10ª edição – Nicolitt tem origem e parte da trajetória próximas a de Justino. Nascido em Itaperuna (RJ), caçula de mãe analfabeta (não conheceu o pai), foi o primeiro da família a concluir todas as etapas educacionais – o ensino fundamental, o médio, o superior, o mestrado e o doutorado. Todos em escolas públicas, à exceção do último, cursado na Universidade Católica de Lisboa.
Gostando do conteúdo? Nossas notícias também podem chegar no seu e-mail.
Veja o que já enviamosLeu essa? Percentual de negros e negras na magistratura quase dobra com cotas
Ele pensava em cursar História ou Artes Cênicas, chegou a dirigir peças, mas escolheu o Direito pelas possibilidades de sobrevivência. Na faculdade, tocava em bares, para pagar os livros. Três anos depois de formado, aos 27, serventuário da Justiça decidiu fazer o concurso para juiz, incentivado pelo professor (e desembargador) Claudio Brandão. Passou em primeiro lugar nos testes e em segundo no resultado final, com a prova de títulos. “Carregava livro num dia e virei excelência no outro”, brinca, com sorriso sereno, na entrevista de hora e meia, por videoconferência, da sua casa, em Niterói. “Quando me vi assinando como juiz de Direito, nem acreditava naquilo. Meu cargo é de soberania, o status de realização é interessante. Minha relação com poder sempre foi de verbo e não de substantivo, para fazer justiça. Fazer e não ter. Nessa perspectiva, é a grande motivação na magistratura. Outras me desencantam, como as liturgias e os encastelamentos”.
A seguir, os principais trechos da entrevista.
#Colabora – Três magistrados ganharam alguma notoriedade na pandemia: o desembargador de Santos que humilhou o guarda municipal; a juíza do Paraná, que falou em raça numa sentença, e o senhor. A Justiça brasileira é mais parecida com seus dois colegas ou está se aproximando de atitudes como a sua?
O Poder Judiciário, como toda instituição da nossa sociedade, não destoa do cenário autoritário. A imprensa é autoritária, a academia é autoritária, as instituições de modo geral são autoritárias, e o Judiciário também carrega essa marca. Somos uma democracia em construção. Importante é nós nos percebermos com essas mazelas. Primeiro passo para superar os problemas da Justiça no Brasil é perceber que ela possui essas mazelas. Não apenas a morosidade, mas o racismo, o autoritarismo. Por isso, cada vez mais cobrança do Judiciário, seja pela imprensa e pela sociedade organizada, como também por mecanismos internos, como o CNJ. As cobranças por respeito aos direitos fundamentais, à democracia, à igualdade de gênero e racial aumentam. Mas o Judiciário não foge à regra, não somos uma ilha divorciada da sociedade brasileira, que é racista, machista, autoritária.
#Colabora – Como o caso do menino da Grota chegou até o senhor?
Foi no plantão judiciário e surgiu a petição, no finalzinho do plantão. Sábado, cinco e pouca tarde. Como estava envolvido no plantão, não tinha a dimensão midiática. Mas no meu trabalho, me deparo rotineiramente com prisões por reconhecimento.
#Colabora – Na decisão, o senhor questiona o modelo de reconhecimento do livro de fotos. Tem a ver com ser negro?
Analisei tecnicamente e nada mais fiz do que um copia e cola de um livro meu. Explico ali os problemas do reconhecimento como forma de investigação, algo questionado no mundo inteiro. A psicologia aplicada trata disso, mostrando vários fatores que prejudicam o reconhecimento. As pessoas brancas apontam mais facilmente pessoas negras, e vice-versa, seja fisicamente ou por fotografias. Estudo rotineiramente o assunto. Na estrutura social brasileira, onde as vítimas são preponderantemente brancas e os suspeitos majoritariamente negros, isso acaba favorecendo um modelo falível. Esse é o dado técnico-científico. Além disso, a criminologia fala do estigma, do imaginário, da mudança de calçada diante de um jovem preto. O imaginário do negro como criminoso, onde entra de novo a questão da representatividade. Como o Baco Exu do Blues diz: “Eles querem um preto com arma pra cima/ Num clipe na favela gritando: Cocaína/ Querem que nossa pele seja a pele do crime”. Um jovem negro numa estação de transporte público tem muito mais possibilidade de ser abordado pela polícia do que um branco. Ele é abordado, acaba sendo checado e indo parar num álbum de suspeitos. Nos bancos de dados genéticos do Reino Unido, três em cada quatro jovens negros têm seus registros em arquivos sem o equivalente na população branca. Negros e outras minorias étnicas estão sobrerrepresentados no banco de dados inglês. Faço um desafio: visitar as delegacias e pedir para ver livros de suspeitos. As fotografias são de pessoas negras.
#Colabora – A repercussão surpreendeu?
Costumo ter muito poder de antecipação, talvez por gostar de jogar xadrez, ou pelo improviso do teatro. Mas na magistratura, já fui várias vezes surpreendido. Essa foi uma delas. Não esperava repercussão desse tamanho, o que é sempre desconfortável. Nós, magistrados, preferimos atuar de modo mais discreto. Sou também professor, tenho formação com olhar interdisciplinar, pela filosofia e sociologia. Estudei teoria da Justiça e tento implementar na minha atividade uma percepção diferente, não o senso comum. Acabo agindo muito guiado por uma concepção de justiça.
#Colabora – Qual é?
Fazer justiça é promover a igualdade.
#Colabora – Como fazer isso no país da desigualdade?
O maior desafio é o de superação da cultura de desigualdade, extermínio, eurocêntrica, na qual o Brasil está inserido desde 1500. Para romper é muito difícil. Por 350 anos, explorar os corpos negros e exterminar os corpos indígenas foram coisas absolutamente naturais. Tudo com a finalidade de produzir riqueza para um pequeno grupo. Era algo naturalizado, dogmático. O sistema de justiça criminal foi pautado, estruturado para manter essa desigualdade. Em 1830, o debate sobre a pena de morte discutia como controlar os escravizados sem ela. Acabou prevalecendo a permanência da pena de morte, com destaque para o crime de insurgência de escravos. O último executado no Brasil foi um negro que se revoltou contra aquele que o castigava.
#Colabora – Quanto avançamos nessa desconstrução?
Num país em que pessoas pretas foram tidas como coisas, como mercadorias, durante 350 anos, os herdeiros daqueles que foram mercadorias tornaram-se sujeitos de direitos, e constituem mais da metade da população brasileira. O Brasil tem o desafio enorme de retirar do imaginário o racismo estrutural, a desigualdade sistêmica, e enxergar nos pretos sujeitos de direitos. Coisas que se transformaram em pessoas. Muito difícil para quem não traz essa marca da negritude no corpo fugir da cultura de ver os negros de hoje sucessores de coisas ou mercadorias. Porque a humanidade nos foi negada por muito tempo. Atravessar o Atlântico desumanizou o negro, e essa marca divide a população brasileira.
[g1_quote author_name=”André Nicolitt” author_description=”Juiz” author_description_format=”%link%” align=”left” size=”s” style=”simple” template=”01″]Criminalizou-se a vadiagem, a capoeira, os cultos e ritmos afrobrasileiros – chega até o funk. A marca da criminalização não é de hoje. E o abuso ideológico que se faz do crime de apologia ao crime ataca a liberdade de expressão. Construir igualdade assim é um desafio homérico
[/g1_quote]#Colabora – Continuamos assim república adentro.
Na república, tínhamos escravos libertos, desempregados, que deveriam ser controlados. Então, criminalizou-se a vadiagem, a capoeira, os cultos e ritmos afrobrasileiros – chega até o funk. A marca da criminalização não é de hoje. E o abuso ideológico que se faz do crime de apologia de crime (artigo 287 do Código Penal ataca a liberdade de expressão. Construir igualdade assim é um desafio homérico.
#Colabora – O racismo estrutural também está na Justiça?
Sim, sim. A Justiça não escapa disso do racismo estrutural. Melhorou com as cotas raciais nos concursos públicos e aumentou a representatividade nesses espaços. Sou a favor das cotas, claro. Há um contexto que possibilitou novas subjetividades, mas estruturalmente estamos presos no século 18, no 16, numa série de questões.


#Colabora – Já sofreu racismo?
Racismo sutil o tempo todo, aqui e em outros países também. Em Cuba, país extremamente desenvolvido em termos educacionais, tive dificuldade de pegar táxi. O racismo é algo tão problemático, tão enraizado que nem a educação consegue conter.
#Colabora – E no Brasil, já sofreu racismo?
Episodicamente, já passei por situações de xingamento. Na rua, vestido de maneira informal, já tomei dura na polícia, e táxis não pararam.
#Colabora – Quando aconteceu um episódio de racismo, o senhor se identificou como juiz?
Uma vez, estava com um policial que trabalhava comigo e, saindo do Fórum, fomos parados pela polícia. Ele logo avisou: “Esse aqui é o juiz fulano de tal”. Fomos liberados e, em seguida, ele me disse: “Doutor, quando a PM parar o senhor, se apresenta logo. Não deixa criar o problema que aí vai ficar ruim demais. Depois que criar a situação de abuso, o senhor vai dizer que é juiz, vai ter que ir para a delegacia…”. (Risos) O poder embranquece. Como ando muito de terno, acabo sofrendo menos. Uma outra vez, fui ao Ceasa de São Gonçalo, ao lado do Fórum, comprar doces para Cosme e Damião. Saí com as caixas e um rapaz se aproximou: “O senhor é pastor?” Quando vê um preto, de terno, a pessoa pensa isso (risos). Como é que eu podia ser pastor, cheio de doces… Enfim, são coisas sutis, porque o poder embranquece. E muitas vezes, não sou visto como negro também porque não sou retinto. Muita gente, em audiência, me chama de moreno.
#Colabora – Você convive com poucos negros na sua rotina. Dá solidão?
Sim. Minha filha, aliás, é muito radical nessa temática, porque a mãe dela e minha atual esposa são brancas. “Você é palmiteiro”, ela me disse outro dia. Respondi que ela fala isso porque agora é mole. Na universidade, agora está cheio de negão. Quando entrei, tinha uns quatro pretos e uma menina, que até tentei namorar, mas ela gostava de um amigo meu branco. Quando você entra em ambientes esmagadoramente reservados aos brancos, acaba se envolvendo com eles. Hoje é fácil, está tudo florido. No Brasil, somos 14% de juízes pretos e pardos; pretos somos 1,4%. Levando em consideração o embranquecimento que o poder dá, muitos que se declaram pardos o fazem por não reconhecer a própria negritude. O termo pardo sempre foi um problema na nossa trajetória. A lei criou certo consenso em relação a isso com o Estatuto da Igualdade Racial, que considera negros os pretos e pardos. Mas no dia a dia, a grande maioria dos pardos não se reconhece como negros.
[g1_quote author_name=”André Nicolitt” author_description=”Juiz” author_description_format=”%link%” align=”left” size=”s” style=”simple” template=”01″]A gente que vem da senzala não acredita muito facilmente na derrota. Os negros têm uma força para resistir à adversidade maior do que os brancos. Estamos no ápice da luta
[/g1_quote]#Colabora – O senhor é pessimista com o Brasil?
Confesso que nunca pensei em sair do país, mas depois de 2018, tive sentimento de muita tristeza. Mas vou para onde? A extrema-direita cresceu no mundo inteiro. Ia me exilar só do samba, do calor, da alegria, dos desafios do Brasil. O abrigo dos perigos autoritários não existe, há uma tônica mundial, Trump, a Europa… Fora, não vou encontrar algo muito melhor – só a saudade. E há uma diferença com os pretos. A gente que vem da senzala não acredita muito facilmente na derrota. Os negros têm uma força para resistir à adversidade maior do que os brancos. Aprendemos isso a vida toda, não vai ser qualquer coisa que vai nos derrubar. Quantos negros viveram durante décadas sob o açoite na senzala e nem por isso tomaram resoluções trágicas? O número de negros não suicidas na escravidão é muito grande. A maioria de nós não se suicidou. A gente traz na nossa vida essa pegada de não desistir jamais. Walter Benjamin fala da história a partir do olhar do oprimido. A opressão está sempre presente. Estamos no momento em que é possível resistir de forma mais visível, mais racional, mais articulada, mas os problemas de racismo estrutural ainda são os mesmos, na mesma intensidade. A esperança não morre facilmente, mas sou consciente de que vivemos ainda um momento muito difícil. Houve uma pausa de alívio e reconhecimento de direitos, mas com os avanços e conquistas de negros, mulheres, LGBTs etc, as elites reagiram – e o Trump, o Bolsonaro e os outros governos de extrema-direita são a reação nesse mundo em constante tensão entre oprimidos e privilegiados. Estamos no ápice da luta.
#Colabora – Como assim?
Tivemos um período de conquistas, como cotas, representatividade, aprovação de estatutos. Foi muito duro para as classes média e alta brancas brasileiras perceber que há menos vagas para seus filhos nas universidades públicas. Com o fim de uma era de governos sociais-democratas, o projeto autoritário personificado pelo Bolsonaro representa a esperança de retomada dos territórios perdidos por essa elite branca, que quer de volta as vagas só para ela. E querem para nós só o cárcere. Há momentos de construir e conquistar direitos – estamos no momento de preservar, de não perder. Neste momento, aquele bordão do movimento estudantil, “nenhum direito a menos”, é simbólico.
Últimas do #Colabora
Relacionadas
Aydano André Motta
Niteroiense, Aydano é jornalista desde 1986. Especializou-se na cobertura de Cidade, em veículos como “Jornal do Brasil”, “O Dia”, “O Globo”, “Veja” e “Istoé”. Comentarista do canal SporTV. Conquistou o Prêmio Esso de Melhor Contribuição à Imprensa em 2012. Pesquisador de carnaval, é autor de “Maravilhosa e soberana – Histórias da Beija-Flor” e “Onze mulheres incríveis do carnaval carioca”, da coleção Cadernos de Samba (Verso Brasil). Escreveu o roteiro do documentário “Mulatas! Um tufão nos quadris”. E-mail: aydanoandre@gmail.com. Escrevam!







































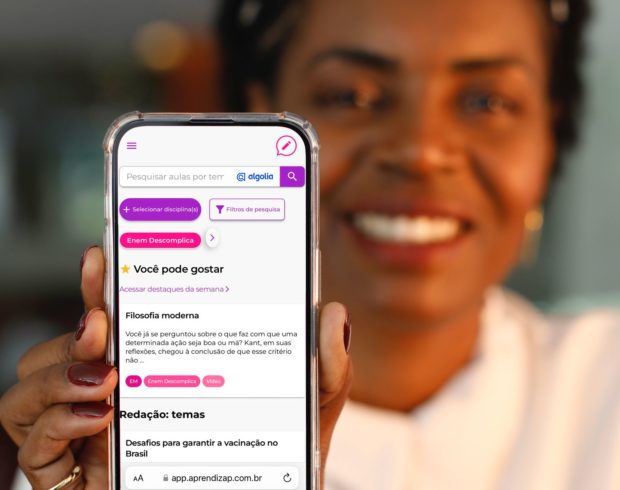



Aydano é sempre brilhante nas suas matérias, escreve com competência e paixão sobre temas que incomodam!
Muitas palmas para o juiz André Nicolitt.
Precisamos de mais como ele!
Obrigada pela reportagem.